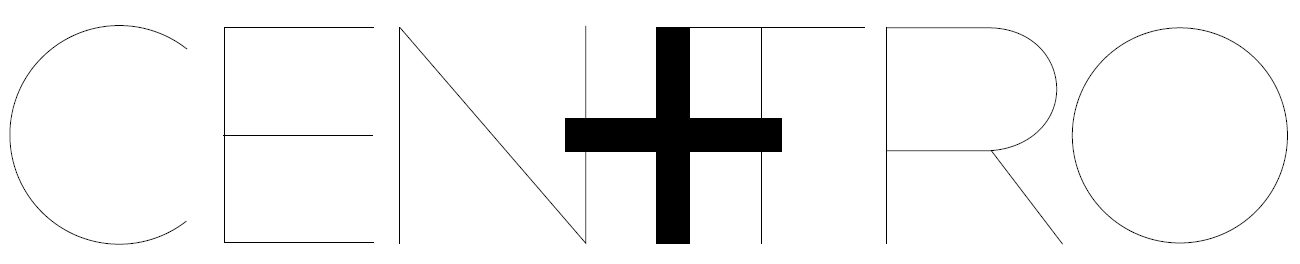POR PRISCYLA GOMES
O INIMAGINÁVEL EM ALAIN RESNAIS
Cinema e o testemunho do trauma
“Aqui não se trata, como é obvio, da dificuldade que nos assalta cada vez que tratamos de comunicar aos demais nossas experiências mais íntimas. Essa divergência permanece como estrutura essencial do testemunho. Por um lado, o que teve lugar parece aos sobreviventes único e verdadeiro e, como tal, absolutamente inesquecível. De outro, essa verdade é, na mesma medida, inimaginável; é dizer, irredutível aos elementos reais que a constituem. Alguns feitos são tão reais que, em comparação com eles, nada é igual e verdadeiro, uma realidade que excede necessariamente seus elementos factuais.” [Giorgio Agamben][1]
É possível narrar o inimaginável? Acontecimentos cujas dimensões parecem incomensuráveis – por impactarem de maneira violenta e desproporcional o contexto social e político – tornam falhas, à primeira vista, distintas tentativas de representação.
Didi-Huberman, em um ensaio dedicado à memória visual do Holocausto, publicado em 2001, faz menção ao escritor francês Georges Bataille como o pensador por excelência do impossível. Bataille seria um dos poucos que, na tentativa de narrar as mazelas dos campos de concentração, afirmava que tal iniciativa só era possível aos próprios campos: o possível só era possível quando vinculado à experiência.
Bataille teria conseguido, na visão de Didi-Huberman, uma possibilidade de narrar o desmesurado, o aberrante, sem banalizar o horror, por ter sabido desde o início enunciar uma relação indissolúvel entre a imagem e a violência, entre a produção da imagem e aquilo que se faz inerente ao humano: “Se seguimos atentos à lição de Bataille – Auschwitz como uma pergunta vinculada ao inseparável, ao semelhante, à imagem do homem em geral – descobrimos que além ou não de seu sentido político óbvio” suas imagens “nos colocam diante do drama da imagem humana como tal”.
O argumento de Bataille, apropriado por Didi-Huberman, aposta na potência da imagem e do testemunho amparados pela inumanidade que episódios como o genocídio judeu teriam acarretado à História. Trazer à tona esses episódios, em detrimento das posturas pautadas pelo silêncio e pela irrepresentação (justificadas pelo respeito a dor dos envolvidos), exprime em Didi-Huberman uma convicção a reverberar também nos escritos de Jacques Ranciére, de que os testemunhos desses acontecimentos são importantes meios à uma politização da estética.
Didi-Huberman não abandona os testemunhos de traumas de tamanho impacto – que influenciaram de maneira drástica contextos sociais seguintes e recontextualizam o cotidiano dos indivíduos ali inseridos – mas admite certa insuficiência do relato e do registro como uma versão factual do inimaginável. A escolha de Bataille, tal qual poderia ser a de Lacan (segundo os quais o Real é impossível), explicita-se numa operação que privilegia fragmentos, objetos parciais de uma experiência desconcertante.
O relato como testemunho do inimaginável
A noção de trauma, quando relacionada a situações de grande impacto coletivo, encontra desdobramentos tanto na esfera individual quanto coletiva. Nessa duplicidade reside a problemática da reação traumática. Mesmo quando trazida ao plano das vítimas individuais, sua componente coletiva não pode ser ignorada e tem implicações inclusive em casos em que não houve exposição direta ao episódio traumático original.
Os sintomas do trauma, seus resquícios e marcas são bastante recorrentes na psicanálise. Freud demonstrou a importância do relato como instrumento de contenção ao horror e ao desamparo decorrentes do trauma[2]. Sua concepção do relato, contudo, não culmina propriamente na eliminação do trauma, parte-se do “pressuposto que é impossível dizer o real. Logo, ao falar do trauma é menos dizê-lo do que construir as bordas em torno de um impossível dizer”[3].
As exigências do primeiro pós-guerra levaram a psicanálise a abdicar de seus primeiros entendimentos acerca das reações traumáticas vinculadas à sexualidade e em favor de numerosos casos neuroses de guerra[4]. Buscou-se identificar as implicações subjetivas que traziam experiências desconcertantes como os genocídios. Dessas investigações derivaram importantes reflexões que vinculavam e acentuavam duas esferas: não havia no trauma uma dimensão do indizível? Como tais experiências individuais se atrelavam à dimensão sociopolítica das situações a que pertenciam?
As atrocidades vivenciadas desvelavam um ímpeto contraditório. De um lado impulsionavam a narrativa desses episódios por reforçarem a condição de sobrevivência de suas vítimas, por outro traziam uma condição limite referente ao trauma: “Não que a experiência vivida seja indizível. Ela foi invivível”[5].
De toda forma, a aposta no testemunho do relato, ainda que reforçasse certa incompletude e que desvelasse novamente uma dimensão do inimaginável, trazia consigo uma crucial abordagem à problemática da reação traumática: ao longo do século XX, a livre associação psicanalítica passava a aliar dimensões subjetivas desses episódios à complexidade de seu caráter social e político. Como afirma Slavoj Žižek, “até as intromissões mais violentas do real externo devem seu efeito traumático à ressonância que encontram no masoquismo perverso, na pulsão de morte, nos sentimentos inconscientes de culpa etc. […] nossa própria realidade sociopolítica impõe versões múltiplas das intromissões externas, traumas que são interrupções brutais e sem sentido que destroem a textura simbólica da identidade do sujeito”.

O cinema como testemunho
A partir da Segunda Guerra o cinema também passa a abordar os limites desses relatos, dos processos pós-traumáticos enfrentados por esses indivíduos, e a questionar o papel da narrativa na produção e veiculação de imagens desses episódios. O modelo hollywoodiano se impõe – são inúmeras as produções a abordar o tema – primando pela ficção e pela narrativa onisciente como modo de dar conta de todas as possibilidades de interpretação de uma realidade exposta diante dos espectadores. Com o cinema moderno, era fácil encontrar motivos para uma fuga do regime figurativo diante do horror do Holocausto. Exibe-se algo que não pretende fazer uma representação mimética, mas sim dar conta de sua condição de artifício; o mostrado oferece algum tipo de referência ao que se apresenta.
“Havia coisas que ver e de toda índole. Havia coisas que ver, que entender, que sentir, que deduzir do que se via e do que não se via (os trens que, sem interrupção, chegavam cheios e voltavam vazios). E, curiosamente para muitos isso permaneceu fora da esfera do saber. […] Do mesmo modo que a radicalidade do crime nazista nos impõe a pensar de novo o direito e a antropologia; igual que a enormidade dessa história nos impõe a repensar o relato, a memória e a escrita (como desmonstraram , cada um a sua maneira, Primo Levi e Paul Celan); igual que o inimiginável de Auschwitz nos impõe, não eliminar e sim pensar novamente a imagem quando nossos olhos se encontram, de repente, de forma concreta com um de seus registros”. [Georges Didi-Huberman] [6]
“A radicalidade do crime nazista” emerge como temática frente à noção de genocídio, não propriamente pelo número de suas mortes. Grandes massacres não eram novidade até então. Determinante mesmo era a intenção de eliminar resquícios e traços de certas culturas a ponto de que não houvesse sinais de sua existência. Tamanha barbárie se alia a uma capacidade de organização sistemática inédita, uma invisibilidade não suficientemente explicada fazia com que os campos fossem irreconhecíveis nos registros aéreos, um aparato e sofisticação que trouxe esses crimes à condição de serem julgados pela legislação internacional e ganhassem as vistas de uma problemática de narrativa e representação. Fazer jus à verdade desses acontecimentos tornava-se imperativo aos debates acerca de sua representação.
No caso específico da imagem cinematográfica, uma série de produções documentais ou ficcionais viriam a ser pautadas pelo imaginário deste e de tantos outros genocídios. Havia uma preocupação explícita frente à ética das imagens, frente ao papel de, invariavelmente, colocarem-se como influência sobre o tecido social. Trazer a memória desses incidentes, abordar seu traumas decorrentes, explicitavam também seu propósito acerca dos sofrimentos ali imbuídos. A representação desses incidentes, a reinterpretação das imagens decorrentes, reverberam as atrocidades presenciadas também como um compromisso.
Exemplo desse questionamento se dá também na crítica cinematográfica. Quando Jacques Rivette, um dos principais expoentes da Nouvelle Vague francesa e então crítico da Revista Cahiers du Cinema publica uma crítica veemente ao final de Kapo (1960), película produzida pelo italiano Gillo Pontocorvo acerca dos campos nazistas, instaura-se um debate acerca da “neutralidade” da estética no momento de representação desses crimes. A defesa dessa neutralidade, muitas vezes, torna-se sinônimo de uma abordagem documental desses fatos e de uma escassez de recursos estéticos nas decisões de filmagem. As consequências políticas de certas escolhas estéticas eram mote de discussões que, aos moldes de Walter Benjamin, primavam, ao contrário dos regimes fascistas, pela não estetização da política.

Alain Resnais, a propósito do inimaginável
Um pouco antes de Rivette reiterar a importância do cinema moderno vincular-se à discussão de formas de apropriação e recriação desses episódios coletivos, Nuit et Brouillard (Noite e neblina) dirigido por Alain Resnais em 1955 antecipa-se às pautas[7].
Na ocasião do convite feito ao cineasta pelo Comitê de História da Segunda Guerra Mundial, um vasto material de documentação do cotidiano dos campos é disponibilizado e Resnais seleciona registros fotográficos e fílmicos para constituir um apurado alinhavo, fruto de sua experiência em montagem, desses documentos e planos captados em Auschwitz e Maidanek, no outono de 1955.
Resnais intercala tempos e imagem de caráteres distintos: a cor demarca o tempo presente, inerte, pacífico, de paisagens bucólicas e arquiteturas assépticas ao passado das imagens de arquivo, sempre em preto e branco, muitas vezes com registros atrozes e desconcertantes. A temporalidade também se distingue pela escolha de longos travellings, que percorrem os campos numa apreensão quase meditativa, contrapostos a planos fixos que revelam fotografias da época.
“Em travellings lentos, a câmera não se mexe senão nos cenários vazios, reais e vivos – ligeira agitação dos tufos de erva – mas vazios de qualquer ser, e de uma realidade quase irreal à força de pertencer a um mundo que, para mais, é o de uma improvável, impossível sobrevivência. A câmera parece deslocar-se em vão, sem efeitos reais, desapossada do drama, do espetáculo que estes movimentos parecem acompanhar, mas que não são senão os de fantasmas invisíveis. Tudo está vazio, imóvel e silencioso; fotografias seriam suficientes. Mas, precisamente, a câmera move-se, ela é a única a mover-se, ela é a única vida, não há nada a filmar, ninguém, só resta o cinema, não há nada de humano e de vivo a não ser o cinema, diante de alguns vestígios insignificantes, derrisórios, e é este deserto que a câmera percorre, é sobre ele que ela inscreve o rastro suplementar, rapidamente apagado, dos seus trajetos muito simples.” [Alain Fleischer] [8]
O questionamento de Resnais acerca da responsabilidade ética do filme e de possível banalização da complexidade do tema o leva a convidar o poeta francês Jean Cayrol para produção do texto, depois vindo a ser auxiliado por Chris Marker. É o fato de Cayrol ser um sobrevivente do campo de Mauthausen-Gusenser, que diminui uma parcela de incertezas da viabilidade da produção narrar tamanho extermínio sem perder seu comprometimento com a experiência vivida. Como se Resnais quisesse ter como lastro uma noção de testemunho que vinculasse a narrativa somente àquele que a experencia, como se também estivesse absorto pela crueza das imagens que manipulou.
A narrativa de Cayrol se divide em três partes: a primeira remete-se ao advento nazista, a vitória alemã, a captura e morte das primeiras vítimas; a segunda narra a vida nos campos, os trabalhos forçados, as humilhações sofridas; e a terceira aborda a empreitada desumana de extermínio dos deportados, a engenharia refinada dessas mortes. Embora extremamente vinculada à sua vivência pessoal no campo, a narrativa se descola para uma abordagem em terceira pessoa, uma saída que só reforça o caráter das imagens que Resnais conjuga e produz.
A captura das imagens nos campos, a diluição temporal que a montagem do filme alude, intensificam a conjugação entre uma dimensão ético-política de seu documentário e uma dimensão estética. A associação imagem e violência, atribuída por Didi-Huberman como uma perspicaz observação de Bataille, parece se apresentar também como uma importante chave para pensar a película de Resnais. O diretor parece abdicar de compreender Auschwitz como um fenômeno, alegando suas causas e motivos, e aposta na suspensão temporal desses atos.
A certa indiscernibilidade das imagens trazidas em Nuit et Brouillard nos coloca em uma condição dúbia: as associações formais que fazemos nos remetem à uma desatenção frente a complexidade desses fatos, nos coloca numa suposta condição de conivência. É possível não diferenciarmos uma série de corpos, de uma pilha de objetos descartados. Uma tácita frieza equipara, em sequência, óculos, pentes, pratos e restos de cabelos femininos. Somos tomados por uma falsa dimensão quantitativa dessas imagens, embora conclua-se repetidamente: não, não é possível mensurar.
Como Deleuze nos mostra em seu Cinema: imagem tempo, [9] Resnais ao tentar realizar uma representação do irrepresentável, do abjeto pensamento nazista sobre como gerenciar um extermínio, estabelece uma eficaz estratégia de desmerecimento desses atos. Pois não é nos proibindo de imaginar que expressamos melhor seu horror. Não podemos exigir que se interrompam o fluxo de associações, de reflexões que as lacunas deixadas por imagens esparsas provocam. O processo de representação das imagens nos convida à sua montagem associativa em busca de sentido de reconstituição desses traumas. Um sentido perdido que pode ser entrevisto nas lacunas deixadas pela irrepresentabilidade de gestos tão desmedidos e hostis. É dessa forma que Noite e neblina concede traços, rastros e imagens de um tempo genocidário: como indícios de imagens de como o homem mesmo arruinou-se diante do seu semelhante.
Priscyla Gomes,
curadora e pesquisadora, formada pela FAU/USP, onde faz mestrado em teoria e história das artes. Integra do Núcleo de Curadoria do Instituto Tomie Ohtake.
Notas
[1] Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo (Homo sacer III). Valencia: Pre-Textos, 2000 (p.8).
[2] Sigmund Freud , “Fixação e traumas – o inconsciente. Conferência XVIII de Conferências introdutórias sobre a psicanálise”. Em: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. XVI. Rio de Janeiro: Imago Editora, 2009.
[3] Heloisa Caldas, “Trauma e linguagem: acorda”. Em: Opção Lacaniana online. Ano 6. Número 16, março 2015.
[4] Até então, os tratamentos destinados a esses tipos de neurose estavam diretamente vinculados à psiquiatria.
[5] Márcio Seligmann-Silva, “A história como trauma”. Em: Arthur Nestrovski e Márcio Seligmann-Silva (orgs.), Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000.
[6] Georges Didi-Huberman, Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto. Barcelona: Paidós; 2004 (p. 95-6; 268).
[7] Cabe ressaltar alguns aspectos importantes ao contexto em que se insere o filme: Noite e neblina foi um dos primeiros documentários sobre campos de concentração direcionados ao grande público. Seu impacto é imediato. Já em 1956, ganha o Prêmio Jean Vigo e é selecionado para exibição no Festival de Cannes.
[8] Alain Fleischer, L’Art d’Alain Resnais. Paris: Centre Georges Pompidou, 1998.
[9] Rio de Janeiro: Brasiliense, 1985.