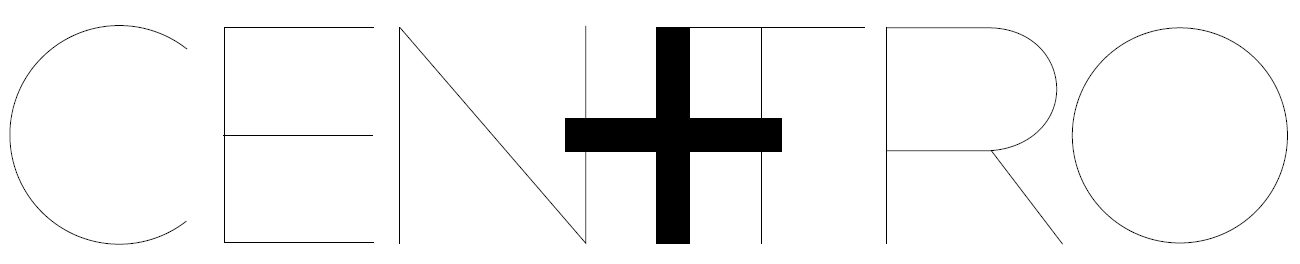POR RODRIGO VILLELA
FOTOS FABIO FURTADO
TRAJETO MELANCÓLICO
Por que, numa cidade com 20 milhões de pessoas, algumas capturam meu olhar e outras não?
No percurso de construir um olhar, o andarilho Fábio Furtado retoma o gênero da fotografia de rua. Furtado constituiu uma linguagem pontuada por uma atmosfera melancólica, que constrói pontes onde os rios estão submersos e sabe ser reveladora sem ser cruel. Para o crítico Eder Chiodetto, “Andar à deriva numa metrópole significa reconstruí-la, dotá-la de novos significados”. Apesar de as paisagens de Furtado serem em muito facilmente localizáveis, em São Paulo, Berlim ou Porto Alegre, seu foco está nas gentes. Mais precisamente nos momentos quando o humano se faz presente e as cidades são as pessoas que nela habitam. Sempre com camadas de vazios, de silêncio. Nesse sentido, sua obra não constrói novas cidades a cada registro, mas sim múltiplas visões de pessoas, em seus momentos mais íntimos e ao mesmo tempo cotidianos, quando esquecem que alguém está olhando ou quando isso já não mais importa.
“Os homens estão cá fora, estão na rua.
A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava.
Mas também na rua não cabe todos os homens.
A rua é menor que o mundo.
O mundo é grande.”
[Carlos Drummond de Andrade, “Mundo grande”, em Sentimento do mundo]

O que é mais característico de fotografar na rua?
Com o celular como instrumento consigo fazer coisas que com uma câmera maior não conseguiria, sem chamar tanto a atenção. Posso ser mais anônimo, me misturar melhor ao espaço onde estou. Há um resgate do gênero da fotografia de rua. E, na rua, eu ando. E encontro atmosferas – a luz – e, sobretudo, as pessoas. Fico andando e olhando, atento a uma certa empatia. Logo uma figura se destaca – ou pela posição, pela composição que se forma, ou pela emoção provocada; pela energia de uma cena. Então eu procuro fotografar, e é como se fosse um presente. Quando eu ganho uma cena e não fotografo, é como se estivesse cometendo um pecado. Vai que daqui a pouco começa a não aparecer?
Como se dá sua relação fotográfica com o transporte público?
No carro não dá pra fotografar. Perde-se o contato direto e o tempo de olhar para as coisas, não há uma relação mais imediata com a cidade. Já conheci gente no transporte público, já tive casos, praticamente namorei. No carro não existe essa relação com a cidade. Por que, numa cidade com 20 milhões de pessoas, algumas capturam meu olhar e outras não? Isso sempre me causou certa curiosidade, algo meio adolescente. É uma amostragem um pouco misteriosa, tem a ver com o acaso também, com uma certa sincronicidade, de você estar ali junto com outras pessoas num determinado momento. E então olhar, se relacionar com o que está à sua volta, e fotografar.
E como você entra na vida do outro sem permissão?
Estou na rua, os outros também. A relação do indivíduo com o espaço, a começar pelo seu espaço interior, a sua intimidade, e o que disso se liga com o espaço exterior, é algo constante a permear tudo. Eu também estou sendo observado, faço parte do horizonte sensível de outras pessoas. Mas se trata da fotografia de uma pessoa. É representação, e aí cabe a você compor segundo o que você está sentindo e fazer isso com dignidade. Caso contrário, o demérito é todo meu, porque a pessoa, o “assunto”, que é um jeito meio desumano de falar, não tem muito o que fazer, para além da empatia que gerou – a foto é minha. Eu quero acreditar que nas fotos que faço as pessoas estão dignificadas de alguma forma; e se não estão, não publico.
Você chega a seguir pessoas na rua?
Sim. Quando aparece uma figura que me chama a atenção, mas que de alguma forma não está “completa”, quando não consigo o momento certo, ou erro o tempo, sigo tentando fotografar, tentando encontrar na composição de fotos sucessivas algo correspondente ao que senti vendo a cena. Já segui pessoas interessantes sem conseguir nada. Tem a ver com a perda de certa espontaneidade do primeiro momento, quando surge a imagem. Você reage meio instintivamente, compõe mais com a sensação e o sentimento. Uma vez segui uma dupla por metade do centro. Foi incrível, quase como entrar num filme, porque minha imaginação obviamente começa a criar, a pressentir uma história que não precisa ter nada a ver com a história de fato daquelas pessoas. Crio a história de um encontro, do nosso encontro na cidade e do que isso evoca em mim. Fui atrás até os dois desaparecerem, no Glicério [bairro do centro de São Paulo]. E não consegui foto alguma.


Como é sua relação com São Paulo?
São Paulo ainda me parece uma cidade de tropeiros, com essa beleza de ser espaço de passagem. Uma junção entre o mar e o interior. Imaginar que São Paulo um dia foi uma cidade fluvial, com seus inúmeros rios e afluentes, a maior parte atualmente enterrada ou canalizada, me faz pensar que a luz deve ter sido muito bonita. Ainda tem alguma coisa disso por aí, em alguns momentos do dia surge uma luz meio rosa, meio azul. As saídas fotográficas tem muito do meu mundo circunstancial, do que estou sentindo num determinado momento. Nunca sei exatamente para onde vou, quando saio. Eu simplesmente saio e me guio pelas sensações – pode ser a luz daquele dia, que me remete a alguma lembrança ou a alguma parte da cidade; pode ser um sentimento, que me faz querer algum tipo de espaço e convivência. Ainda assim, quase sempre, se não estou no centro – do Bom Retiro ao Glicério – estou pela Paulista.
Quais são as peculiaridades de cada região da cidade?
O centro velho e outras regiões mais antigas têm uma configuração urbana que predispõe mais à convivência. É diferente da mistura da Avenida Paulista. O centro é mais desgraçado. É de fato mais misturado, e também mais sofrido em muitos aspectos. Tem mais gente vagando, sem fazer nada. A Paulista, durante a semana principalmente, tem um corte mais trabalho, consumo. No centro as pessoas acabam convivendo mais, mesmo sem querer. Vão para andar de skate, vender alguma coisa, para sentar na escadaria do Municipal ou da Catedral da Sé e introspectar. Tem toda uma população africana nova. E também outros imigrantes, da América Latina, do Extremo Oriente, uma população muito heterogênea que fez do centro seu lugar. Sem falar no movimento sem teto, que ocupou vários prédios, e dos coletivos artísticos. Essas pessoas estão convivendo. E o centro predispõe a isso. A liberdade que sinto andando por ali eu não encontro em outros lugares da cidade. Não tem a opressão arquitetônica horrorosa que domina boa parte do que é novo em São Paulo. A Vila Madalena é um saco, não tenho vontade de fotografar, parece um editorial, com tudo já muito preparado. A Vila Mariana, descendo, tanto para o Ibirapuera, como para o Cambuci, fica interessante. Mas o meio da Vila Mariana é uma catástrofe imobiliária, assim como a nova Vila Romana, Lapa, Vila Olímpia, Itaim… que estão se transformando, pra pior. Ninguém anda ou convive na rua, estão todos dentro dos carros ou dos prédios.

E esse mercado imobiliário novo, você praticamente não fotografa? É uma procura por um ideal de beleza?
Num edifício de um arquiteto modernista, o humano está colocado naquele espaço de uma maneira mais digna do que nessas novas construções, nas quais o humano não está mais presente de fato; a pessoa não está sendo considerada em toda a sua complexidade. Ela até acredita que sim, porque tem quadra poliesportiva, muitas “facilidades”, mas esses espaços não foram feitos em torno de uma figura humana que tenha um espaço interior muito presente. Em alguns outros lugares, mesmo em regiões hoje ditas degradadas, como no entorno do Minhocão, basta olhar para as construções e as calçadas para ver que era uma outra concepção de vida, com mais tempo e mais espaço. A arquitetura modernista misturava moradia com comércio e criava praças incomuns, como o Conjunto Nacional, integrado e aberto à rua. O shopping fechado é outra catástrofe, tira as pessoas da cidade que habitam. Eu não consigo fotografar direito em shopping. Acabo sendo crítico, irônico. É como o carro, que afasta as pessoas de um contato mais afetivo e direto com a cidade.
Como você vê a dimensão simbólica da fotografia?
Fotografia é representação, assim como a pintura, a escultura etc. É portanto uma linguagem, uma forma de comunicar algo. A Nan Golding diz: “Fotografar é uma forma de tocar alguém, uma carícia”. Para mim faz muito sentido, tem essa tentativa de fazer contato, apesar da fugacidade dos momentos. Mas ainda assim é uma linguagem, um meio através do qual o seu universo pessoal se relaciona, simbolicamente, mediante determinadas formas, cores e geometrias, com os outros. E no caso da fotografia de rua, você faz isso a partir do contato com a cidade e com as pessoas. A cidade traz um dado de realidade muito grande e te chama à vida real. Daí a necessidade de procurar uma abordagem sincera e não criar um “idílio”, tanto no sentido de que todo mundo tem que ser feliz quanto no de romantizar o que dói. Tudo passa rápido, a fotografia está constantemente falando de morte, como diz Susan Sontag. Daí assumir a tristeza e a beleza do que é efêmero, pois o registro acontece e a pessoa vai embora. E você também vai embora, mais cedo ou mais tarde. A efemeridade desses momentos e dessas emoções me atraem muito.
Como seu trabalho procura contar histórias e não são ser meramente registro?
É talvez a minha história em relação àquilo que encontro e fotografo. É um percurso, tem um antes e um depois. Carlos Moreira – a quem devo toda minha formação fotográfica – me chamou uma vez a atenção sobre a perda de um certo caráter narrativo na fotografia contemporânea. Se eu me ligo a uma figura, esta figura tem uma história. Se eu me interesso por alguém na rua, me interesso pelo que está do lado dela também, ela está em um espaço, e eu posso ou tentar abstraí-la do entorno, ou fazer dele matéria para a composição. Evandro Carlos Jardim [artista plástico e também meu professor], me falou que uma das funções dos largos na concepção urbana era impedir que uma cidade queimasse inteira, no caso de um incêndio. Hoje eles continuam trazendo uma forma de respiro, predispondo à convivência. Isso tudo é história, e posso levar em conta ao fotografar. A chamada “periferia” – não gosto muito desse termo, já que imediatamente estabelece uma escala de valores no espaço urbano (periferia em relação a que centro, exatamente…?) – também tem as pessoas convivendo mais. Elas ficam mais na rua, na calçada, conversando, trocando, andando, brincado. Nos Jardins [bairro nobre de São Paulo] não tem isso, não tem tanta mistura.
Por que você registra repetidamente elementos arquitetônicos e pessoas solitárias?
Pessoas sozinhas tem um dado de silêncio. Estão mais voltadas pra dentro quando estão sozinhas. E esse espaço que elas assumem é muito encantador. Mesmo num contexto caótico, essa dimensão interior de cada um é uma maneira de procurar alguma saída, talvez a única realmente válida. Onde fica o ser? É desse ponto que pode surgir um verdadeiro diálogo, uma interação. Meu trabalho tem a ver com essas paisagens interiores, memórias de origens, e do quanto disso se projeta nas pessoas e das pessoas para mim.
Rodrigo Villela,
formado em letras pela USP. Tem especialização em edição pela Universidade Complutense de Madri. Atua como editor e curador.
Fabio Furtado,
fotógrafo, documentarista e dramaturgo; realiza os vídeos da Osesp e faz parte do Grupo Pândega de Teatro.