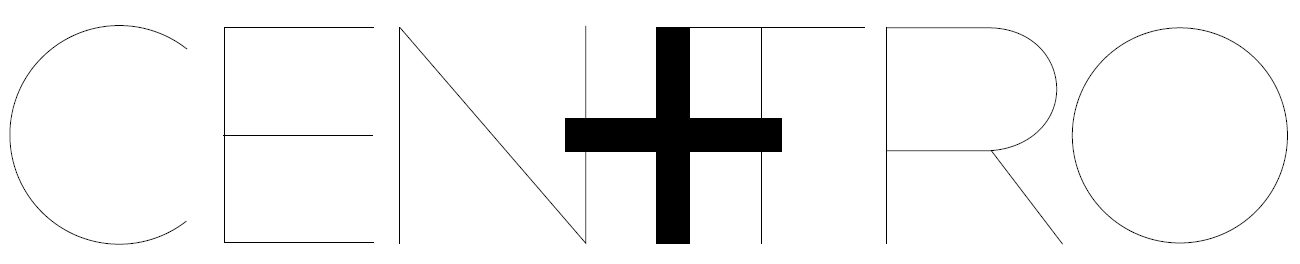POR Isabelle Stengers
FOTO CIRO MIGUEL
NO TEMPO DAS CATÁSTROFES
Capítulo do livro de Isabelle Stengers sobre Gaia

Nomear Gaia e caracterizar como intrusão os desastres que se anunciam, é crucial salientar, depende de uma operação pragmática. Nomear não é dizer a verdade, e sim atribuir àquilo que se nomeia o poder de nos fazer sentir e pensar no que o nome suscita. No caso presente, trata-se de resistir à tentação de reduzir a um simples “problema” o que constitui acontecimento, o que nos atormenta. Mas também de fazer existir a diferença entre a questão imposta e a resposta a ser criada. Nomear Gaia como “a que faz intrusão” é também caracterizá-la como cega aos danos que provoca, à maneira de tudo o que é intrusivo. Por isso a resposta a ser criada não é uma “resposta à Gaia”, e sim uma resposta tanto ao que provocou sua intrusão quanto às consequências dessa intrusão.
Gaia não é, neste ensaio, portanto, nem a Terra “concreta”, nem tampouco aquela que é nomeada e invocada quando se trata de afirmar e fazer sentir nossa conexão com esta Terra, de suscitar um sentido de pertencimento lá onde predominou a separação e de extrair desse pertencimento recursos de vida, de luta e de pensamento [1]. Trata-se de pensar aqui a intrusão, e não o pertencimento.
Entretanto, pode-se objetar, por que então recorrer a um nome que pode se prestar a mal-entendidos? Por que, um amigo me propôs, não nomear isso que faz intrusão de Urano ou Cronos, os terríveis filhos da Gaia mitológica? A objeção deve ser entendida: se nomear é operar, e não definir — ou seja, se apropriar —, o nome não poderia ser arbitrário. No caso presente, sei que a escolha deste nome, Gaia, é um risco, mas aceito o risco, pois para mim se trata também de fazer sentir e pensar aqueles e aquelas que poderiam ficar escandalizados com a ideia de uma Gaia cega e indiferente. Quero conservar a memória de que este nome, Gaia, estava vinculado em primeiro lugar, no século XX, a uma proposição de origem científica. Ou seja, quero transmitir a necessidade de resistir à tentação de uma oposição brutal entre as ciências e os saberes chamados de “não científicos”, cuja articulação será necessária se tivermos de aprender como responder ao que já começou.
De fato, o que chamo de Gaia foi assim batizado por James Lovelock e Lynn Margulis no início dos anos 1970. Eles incorporavam pesquisas que contribuem para esclarecer o denso conjunto de relações, articulando o que as disciplinas científicas tinham o hábito de tratar separadamente: os seres vivos, os oceanos, a atmosfera, o clima, os solos mais ou menos férteis. Dar um nome, Gaia, a esse agenciamento de relações, era insistir sobre duas consequências dessas pesquisas. Aquilo de que dependemos e que foi com frequência definido como “dado”, o enquadramento globalmente estável de nossas histórias e de nossos cálculos, é produto de uma história de coevolução, cujos primeiros artesãos e verdadeiros autores permanentes foram as inúmeras populações de micro-organismos. E Gaia, “planeta vivo”, deve ser reconhecida como um “ser”, e não assimilada a uma soma de processos, no mesmo sentido em que reconhecemos que um rato, por exemplo, é um ser: ela é dotada não apenas de uma história, mas também de um regime de atividades próprio, oriundo das múltiplas e emaranhadas maneiras pelas quais os processos que a constituem são articulados uns aos outros, a variação de um tendo múltiplas repercussões que afetam os outros. Interrogar Gaia é, então, interrogar algo coeso, e as questões dirigidas a um processo particular podem pôr em jogo uma resposta, às vezes inesperada, do conjunto.
Talvez Lovelock tenha ido longe demais ao afirmar que essa articulação assegurava o tipo de estabilidade que se atribui a um organismo vivo saudável, as repercussões entre processos tendo então, como efeito, diminuir as consequências de uma variação. Gaia parecia assim ser uma boa mãe, provedora, cuja saúde devia ser protegida. Hoje nossa compreensão da maneira pela qual Gaia “se mantém coesa” é bem menos tranquilizadora. A questão colocada pelo aumento da concentração dos gases chamados “de efeito estufa” na atmosfera suscita um conjunto de respostas em cascata que os cientistas estão começando a identificar.
Gaia é agora, mais do que nunca, a bem nomeada, pois se no passado foi honrada, foi por ser temida, aquela a quem os camponeses se dirigiam pois sabiam que os homens dependem de algo maior do que eles, de algo que os tolere, mas de cuja tolerância não se deve abusar. Ela era anterior ao culto do amor materno que tudo perdoa. Uma mãe, talvez, mas irascível, que não se deve ofender. E ela é anterior à época em que os gregos conferem a seus deuses o sentido do justo e do injusto, anterior à época em que eles lhes atribuem um interesse particular por seus próprios destinos. Tratava-se, antes, de ter cuidado para não ofendê-los, para não abusar de sua tolerância.
Imprudentemente, uma margem de tolerância foi de fato ultrapassada, é o que os modelos dizem cada vez com mais precisão, é o que os satélites observam e é o que os Inuit sabem. E a resposta de Gaia seria possivelmente desmesurada em relação ao que nós fizemos, um pouco como um dar de ombros provocado pelo leve toque de um mosquito. Gaia é suscetível, e por isso deve ser nomeada como um ser. Já não estamos lidando com uma natureza selvagem e ameaçadora, nem com uma natureza frágil, que deve ser protegida, nem com uma natureza que pode ser explorada à vontade. A hipótese é nova. Gaia, a que faz intrusão, não nos pede nada, sequer uma resposta para a questão que impõe. Ofendida [2], Gaia é indiferente à pergunta “quem é responsável?” e não age como justiceira — parece que as primeiras regiões da Terra a serem atingidas serão as mais pobres do planeta, sem falar de todos esses viventes que não têm nada a ver com a questão. O que não justifica, de modo algum, uma indiferença qualquer em relação às ameaças que pesam sobre os viventes que habitam conosco essa Terra. Simplesmente, não é da conta de Gaia.
O fato de Gaia não nos pedir nada traduz a especificidade do que está ocorrendo, daquilo em que precisamos pensar, o acontecimento de uma intrusão unilateral, que pergunta sem interesse pela resposta. Pois a própria Gaia não está ameaçada, diferentemente das inúmeras espécies vivas que serão varridas pela anunciada mudança de seu meio, com uma rapidez sem precedente. Os inúmeros micro-organismos continuarão, com efeito, a participar de seu regime de existência, o de um “planeta vivo”. E é precisamente pelo fato de não estar ameaçada que ela faz com que as versões épicas da história humana pareçam caducas, quando o Homem, em pé sobre as duas patas e aprendendo a decifrar as “leis da natureza”, compreendeu que era mestre de seu destino, livre de qualquer transcendência. Gaia é o nome de uma forma inédita, ou então esquecida, de transcendência: uma transcendência desprovida das altas qualidades que permitiriam invocá-la como árbitro, garantia ou recurso; um suscetível agenciamento de forças indiferentes aos nossos pensamentos e aos nossos projetos.
A intrusão do tipo de transcendência que nomeio Gaia instaura, no seio de nossas vidas, um desconhecido maior, e que veio para ficar. E, aliás, talvez seja isto o mais difícil de conceber: não existe um futuro previsível em que ela nos restituirá a liberdade de ignorá-la; não se trata de “um momento ruim que vai passar”, seguido de uma forma qualquer de happy end no sentido pobre de “problema resolvido”. Não seremos mais autorizados a esquecê-la. Teremos que responder incessantemente pelo que fazemos diante de um ser implacável, surdo às nossas justificativas. Um ser que não tem porta-voz, ou, antes, cujos porta-vozes estão expostos a um devir monstruoso. Conhecemos a velha ladainha do “somos numerosos demais, é esse o problema”, que vem em geral de especialistas bem alimentados, habitués dos aviões, e cuja morte prematura permitiria, com certeza, uma economia energética invejável. Mas, se ouvirmos Lovelock, hoje profeta do desastre, para acalmar Gaia e viver razoavelmente bem em harmonia com ela, seria preciso reduzir a população humana para uns 500 milhões de pessoas. Os cálculos ditos racionais, que chegam a concluir que a única solução é a erradicação da grande maioria dos homens daqui até o fim do século, não conseguem disfarçar o delírio de uma abstração assassina e obscena. Gaia não pede uma erradicação dessas. Ela não pede nada.
Nomear “Gaia” — ou seja, associar um agenciamento de processos materiais que não pede nem para ser protegidonem para ser amado, e não se comove com a manifestação pública de nosso remorso, à intrusão em nossa história de uma forma de transcendência — não deveria desagradar especialmente a maioria dos cientistas. Eles próprios estão acostumados a dar nome a algo que lhes faz pensar e imaginar — o que é o próprio sentido da transcendência que associo à Gaia. Os únicos que certamente vão vociferar contra a irracionalidade são aqueles que se colocam na posição de “guardiões da razão e do progresso”. Esses denunciarão uma regressão assustadora que nos faria esquecer a “herança das Luzes”, a grande narrativa da emancipação humana que se desvencilha do jugo das transcen dências. Seu papel já foi designado. Depois de terem contribuído para o ceticismo diante dos modelos climáticos (pensemos em Claude Allègre), eles vão usar toda a sua energia para lembrar à opinião pública sempre crédula que ela tem de seguir em frente e acreditar no destino do Homem e em sua capacidade de triunfar sobre todos os “desafios”. O que implica, de modo bem concreto, o dever de acreditar na ciência, esse cérebro da Humanidade, e na técnica, a serviço do progresso. Provocar suas vociferações não me diverte nem me assusta.
A operação de dar um nome não é, portanto, de modo algum anticientífica. Em compensação, ela pode fazer com que os cientistas pensem, pode impedi-los de se apropriar da questão imposta pela intrusão de Gaia. Os climatologistas, glaciologistas, químicos e outros fizeram seu trabalho e conseguiram também fazer soar o alarme apesar de todas as tentativas de sufocamento, conseguiram impor “uma verdade inconveniente” apesar das acusações de que foram objeto: de ter misturado ciência e política, ou então de ter inveja do sucesso de seus colegas cujos trabalhos contribuem para mudar o mundo enquanto eles se limitam a descrevê-lo, ou ainda de apresentar como “provado” o que é apenas hipotético. Eles souberam resistir, pois sabiam que o tempo contava e que não eram eles, mas aquilo sobre o que eles se debruçavam que de fato misturava questões científicas e questões políticas — e, notadamente, a questão do que estava substituindo a política, a nova ordem econômica prestes a impor seus imperativos ao planeta inteiro. Nomear Gaia é ajudá-los a resistir a uma nova ameaça que desta vez realmente fabricaria a pior das confusões entre ciência e política: deixar que se pergunte aos cientistas como responder, que se confie neles para definir o que convém fazer.
É o que, aliás, está acontecendo, mas com outros tipos de “cientistas”. A partir de hoje são os economistas que estão empenhados, e de um modo que garante que, como muitos efeitos “não desejados”, a questão climática será considerada sob o ângulo das estratégias plausíveis”, ou seja, suscetíveis de fazerem dela uma nova fonte de lucro. Ainda que se resigne, em nome das leis da economia — que são duras, mas, dirão eles, são leis —, com uma New Orleans planetária. Ainda que as zonas do planeta definidas como rentáveis devam, em qualquer escala, do bairro ao continente, se defender por todos os meios necessários contra a massa daqueles que serão excluídos, sem dúvida, com o famoso “não podemos acolher toda a miséria do mundo”. Ainda que, em suma, a sucessão dos “não tem jeito, é preciso” instale, plena e abertamente, a barbárie que já está penetrando em nossos mundos.
Os economistas e outros candidatos à produção de respostas globais fundadas na “ciência” só existem para mim como poder de prejudicar. A autoridade deles só existe na medida em que o mundo, nosso mundo, permaneça como está — ou seja, fadado à barbárie. Suas “leis” supõem, antes de tudo, que “nós” fiquemos em nosso lugar, desempenhemos os papéis que nos são atribuídos, tenhamos o egoísmo cego e a incapacidade congênita de pensar e de cooperar, o que faz da guerra econômica generalizada o único horizonte concebível. Seria, portanto, perfeitamente inútil “nomear Gaia” se se tratasse apenas de combatê-los. Mas trata-se de combater o que lhes dá autoridade. Aquilo contra o que se ergueu o grito: “Outro mundo é possível!”.
Esse grito não perdeu nada, realmente nada, de sua atualidade. Pois aquilo contra o que ele se ergueu, o capitalismo — o de Marx, claro, não o dos economistas americanos —, já está empenhado em elaborar suas próprias respostas à questão que se impõe a nós, respostas que nos levam direto para a barbárie. Assim, a luta ganha uma urgência inédita, mas aqueles e aquelas que estão engajados nessa luta devem também enfrentar uma prova realmente desnecessária, de que se pode ser tentado a abstrair em nome da própria urgência. Nomear Gaia é nomear a necessidade de resistir a essa tentação, a necessidade de pensar a partir desta prova: não temos escolha, pois ela não vai esperar. Que não me venham perguntar que “outro mundo” será possível, que “outro mundo” seremos capazes de construir com ela. Não cabe a nós a resposta; ela cabe a um processo de criação cuja enorme dificuldade seria insensato e perigoso subestimar, mas que seria um suicídio considerar impossível. Não haverá resposta se não aprendermos a articular luta e engajamento nesse processo de criação, por mais hesitante e balbuciante que ele seja.
(Trecho de: Stengers, Isabelle. No Tempo das Catástrofes. São Paulo: Cosac Naify. Coleção EXIT. 2015)
NOTES:
[1] Em La Sorcellerie capitaliste, Philippe Pignarre e eu afirmamos o sentido político desses rituais.
[2] Ofendida, mas não vingativa, pois evocar uma Gaia vingativa é atribuir-lhe não apenas uma memória, mas também uma interpretação do que acontece em termos de intencionalidade e de responsabilidade. Pelo mesmo motivo, falar, como James Lovelock hoje, da “desforra” de Gaia é mobilizar um tipo de psicologia que não parece pertinente: vai-se à desforra contra alguém quando a questão da ofensa é da ordem da constatação. Dirão, por exemplo: “Parece que esse gesto a ofendeu, eu me pergunto por quê”. Correlativamente, não se luta contra Gaia. Até mesmo falar de uma luta contra o aquecimento global é inapropriado — se é importante lutar, a luta é contra o que provocou Gaia, não contra sua resposta.
Isabelle Stengers,
Filósofa belga, autora do livro No Tempo das Catástrofes