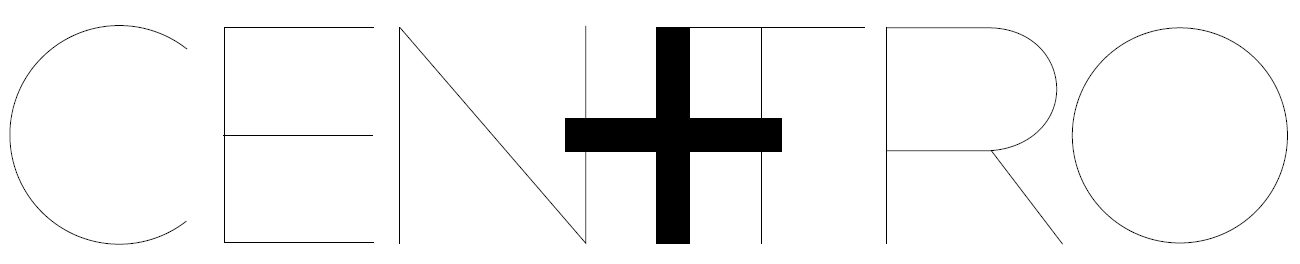Ai Weiwei e as
ambiguidades
do artefato
Um sobrevoo sobre a obra de Ai Weiwei,
exibida em mostra panorâmica londrina
TEXTo Marcio Junji Sono
O fim. Este primeiro número de Centro trata de escatologia e, perante a ideia de fim, podem assaltar a mente imagens de civilizações soterradas pelo tempo, devastadas pela história – esta publicação enfatiza o olhar sobre a cidade, afinal de contas.
À parte o papel que os tornou circunstancialmente relevantes ou até necessários em termos de preservação física de relíquias e artefatos, os grandes museus de história e patrimônio cultural (locais onde esperamos, por excelência, encontrar indícios dessas civilizações) têm em comum algo de fundamentalmente ultrajante: de peças tão pequenas quanto detritos aos majestosos portais de Ishtar, coleções intermináveis de tesouros – amiúde de civilizações ancestrais do médio e do extremo orientes – são secularmente reunidas e exibidas por organizações como Pergamon, National Museum, British Museum e quetais.
Dada a popularidade desses centros, é de se supor que a poucos ocorra uma sensação de revolta e despeito perante essas imensas exposições de bens tomados como despojos (de guerra ou de preponderância cultural), espoliados mais ou menos violentamente (desde a violência óbvia, bélica, até aquela mais insidiosa, silenciosa, do poder econômico e cultural).
Visitar uma dessas instituições tem um quê de visita a um antigo gabinete de curiosidades mórbidas ou de profanação de túmulo suntuoso (até porque sarcófagos não faltam); adentra-se salões em que estão cuidadosamente dispostos índices da finada riqueza alheia, apropriados sob pretexto de conservação de patrimônio, exibidos como índices da cultura mundial que são, e tacitamente convertidos em evidências de uma preocupação multicultural por parte dos socialmente endividados países ricos (os últimos grandes impérios, talvez).
Caminhando não muito a sudoeste do British Museum, chega-se à Royal Academy of Arts, que no último outono londrino exibiu mostra panorâmica de Ai Weiwei, com curadoria de Adrian Locke e Tim Marlow.
A quem acomete aquela revolta descrita acima, a visita era mesmo uma boa pedida para uma “descompressão” à saída do British Museum: o sentimento de indignação em relação às várias relíquias mostradas pelo museu histórico pode se vingar à vista de outras (várias, inclusive, das mesmíssimas era e cultura) que Ai Weiwei literalmente dilacera para utilizar em suas obras. Prazer grandemente ambíguo, é claro.
Nada como uma preciosa coluna chinesa da dinastia Qing (1644-1911) retorcida a propósito de uma escultura-instalação e vasos do neolítico toscamente pintados (com uma simplicidade de paleta que faz remeter ao norteamericano Allan McCollum) para apaziguar a sanha crítica do observador indignado. As séries Furniture (2002) e Coloured Vases (2015) são de uma agudeza arrebatadora.

Reduzir o uso que Ai Weiwei faz desses itens a uma simples forma de iconoclastia, porém, é um reducionismo empobrecedor. Uma inquietante ambiguidade permeia o procedimento: por um lado, destruir relíquias (ou, antes, perverter seu estado) propõe a morte da identidade cultural e, assim, se coloca criticamente em relação ao papel apaziguador da chamada cultura oficial.
No entanto, essa mesma chamada cultura oficial se constrói de manifestações individuais – no limite, portanto, Ai Weiwei também aniquila produtos da expressão humana, e abraça um expediente do opressor.
Diferentemente dos irmãos Chapman, por exemplo (que criaram intervenções sobre gravuras originais de Goya), Ai Weiwei não utiliza obras de arte, mas artefatos culturais.
Isso sugere uma abordagem mais ampla: não se trata de apenas ressignificar os objetos, nem de se apoderar de suas propriedades poéticas conforme a época de sua concepção, lançando uma provocação por anacronismo.
A operação em jogo ao mesmo tempo afirma a transcendência do objeto e critica sua subsistência. Em uma correlação histórica, a tradição milenar chinesa não se oferece como opção à repressão do regime de Mao – e, a fortiori, nem vice-versa.
O press release da Royal Academy afirma que o artista desafia convenções de valor e autenticidade da China moderna. Pode-se dizer, porém, que esse desafio acontece apenas circunstancialmente, já que Ai Weiwei parece mirar muito além, e em termos mais universais: Ai Wei Wei expõe as chagas de seu país usando os seus tesouros culturais, transfigura relíquias e acaba por indagar: o que vale mais, o objeto ou a pessoa? A arte (como mercadoria) ou o espírito?
E quando ele é menos sutil, ainda assim não deixa de ser inteligente e honesto, como quando cria dioramas (S.A.C.R.E.D., 2013) do espaço de seu cativeiro (de maneira um pouco auto-condescendente e literal) ou em provocadora escultura em pedra nobre reproduzindo uma câmera da segurança (Surveillance Camera, 2010 – a escultura, aliás, tem a mesma sedutora precisão das esculturas de Iran do Espírito Santo. Mas se o brasileiro nos convida a olhar para a pura forma do objeto e perceber o fascinante do prosaico, Ai Weiwei parece fazer uma piada sobre o fato de que um ícone de nossa mesquinhez seja convertido em valiosa peça de museu).

Também quando Ai Weiwei exibe sua militância de forma, digamos, menos multifacetada, nota-se um consistência de princípio, que alia discurso político ao deleite estético sem prejuízo para nenhum dos lados: em Straight, obra que se desenvolve em instalação e vídeo, Ai Weiwei celebra a memória dos milhares de mortos pelo terremoto de 2008 em Sichuan, notadamente as crianças que morreram em uma escola, construída pelo governo com crassos problemas estruturais.
Ao lado de vídeo que registra a pesquisa envolvida, centenas de vigas de metal compradas como ferro-velho no canteiro de destroços da escola foram meticulosamente retificadas e organizadas em um espaço retangular, em que essas nove toneladas de ferro sugerem ondas, que visualmente são tão sugestivas do desastre quanto a própria aura (com perdão por convocar algo de um tanto esotérico) que emanam. Longas listas com nomes de vítimas do desastre, emolduradas ao redor da instalação, oferecem uma sensação de drama contido, em que o sucedâneo mais trivial da presença de uma pessoa, seu nome, cria a sensação de que elas estão ali, contemplando o belo amontoado de vigas metálicas conosco.
Dispor os resquícios de uma grande tragédia de maneira tão estudada e bela cria, em vez de uma provocação, uma solenidade que trai os próprios fatos: aquele é o produto final de um ciclo de convulsão telúrica e de dominação política, de sismologia e ganância; o produto para o qual olhamos sem respostas, mas que acrescenta veemência a nossas perguntas.
Todo hype, toda fama temerariamente unânime, suscita também suspeita, assim como qualquer pecha de “artista oficial” conquistada às custas de embates públicos. Muitos baseiam nisso suas ressalvas contra o artista chinês, acreditando que ele navegue, malicioso, a maré de atenção recebida desde suas censuras e prisões.
De fato, pode até haver hype ao redor dele, mas há artista, e muito. Não é à toa que o próprio establishment chinês mantenha uma relação ambígua com Ai Weiwei. De resto, ele ter se tornado ubíquo (e caríssimo) é apenas conseqüência de uma cena carente de produções com tanto a dizer, e dizendo-o tão eficientemente.

Marcio Junji Sono,
é bacharel em filosofia pela FFLCH/USP e há 13 anos atua em comunicação em artes visuais.
LINKS SUGERIDOS:
1. A exposição continua em cartaz em ambiente digital, até 30 de novembro de 2016. O site permite boa visualização com óculos de navegação imersiva. https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/ai-weiwei-360
2. Vídeo em duas partes com entrevista feita pelo curador: https://www.youtube.com/watch?v=KQfDjNSaGPo
Na segunda parte ele fala do processo que resultou na obra Straight: https://www.youtube.com/watch?v=iSu5DP4EQA8