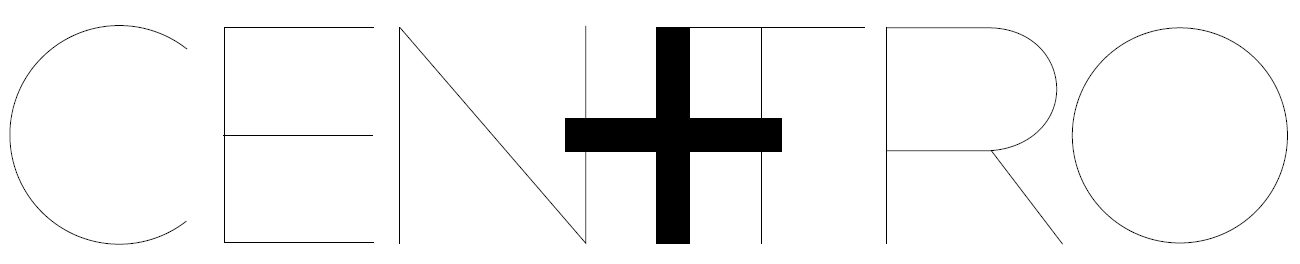FAU EM RUÍNAS
O edifício de Artigas desfigurado
TEXTO GABRIEL KOGAN
FOTOS PB CLARA WERNECK
FOTOS COLORIDAS RAFAEL CRAICE
COLABORAÇÃO RODRIGO VILLELA
João Batista Vilanova Artigas – um dos maiores mestres da arquitetura moderna brasileira – teria completado 100 anos em junho de 2015. Mas há pouco o quê comemorar. Sua obra-prima, o edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, hoje é um assemblage de diferentes reformas, executadas desordenadamente e sem unidade.
O prédio da FAU foi alterado nas últimas décadas sem um projeto amplo de restauro para integrar as intervenções no espaço de mais de 21.000m². Ou seja, a própria Faculdade de Arquitetura reformou o maior patrimônio arquitetônico moderno de São Paulo seguindo a lógica do puxadinho: uma obra aqui, outra acolá, como se constrói a periferia das cidades.
A última reforma – completada no início de 2015 – consumiu 9 milhões de reais de dinheiro público. Se por um lado a cobertura pôde ser reimpermeabilizada para estancar goteiras que atormentavam usuários do prédio; a fachada foi grotescamente remendada, mesmo depois de insistentes alertas – ignorados durante o processo – de estudantes, arquitetos e professores.
Apesar do desprezo pela própria casa, a importância arquitetônica da FAU é inquestionável. Ao visitar o edifício nos anos 90, o arquiteto português Álvaro Siza fez uma bem-humorada autocrítica: “Agora entendi como desenhar uma escola”, em referência a seu projeto da faculdade de arquitetura na cidade do Porto. Em 2008, o fotógrafo Yukio Futagawa, que revelou nomes como Tadao Ando, se desfez de sua frieza nipônica: “Fiquei emocionado com o projeto”.
O professor e prêmio Pritzker Paulo Mendes da Rocha, já em 2006, sintetizava a histórica desfiguração e antevia as violentas disputas políticas e estéticas em torno do restauro do projeto de Artigas nos anos seguintes: “É ruim para essa escola não ser entendida por ela mesma”.

O concreto é político e está armado
A arquitetura brutalista de Artigas na FAU materializava tanto a reformulação do ensino da faculdade – capitaneada por ele no início dos anos 60 – como o pensamento político vinculado aos ideais da esquerda. Atuante no Partido Comunista desde 1945, o arquiteto fazia projetos que impunham desafios aos modos de vida burgueses enraizados em privacidade e conforto. Lina Bo Bardi, analisando as obras residenciais, imbuídas dos mesmos ideais, resumiu: “Cada casa de Artigas quebra todos os espelhos do salão burguês”.
As disputas em torno do edifício da FAU estão na gênese da história do projeto da faculdade na Cidade Universitária, no Butantã em São Paulo. Antes mesmo de existir, o prédio já era objeto de conflitos rebatidos na arquitetura, com a política nacional impregnando o concreto. Projetado em 1961, o edifício (também assinado por Carlos Cascaldi) soava como uma antítese dos valores depois defendidos pelo governo militar pós-64: “Pensei-o como a espacialização de democracia, em espaços dignos, sem portas de entrada, porque o queria como um templo, onde todas as atividades são lícitas”, dizia Artigas. O Salão Caramelo – com mais de 1.000m² de praça coberta no meio do edifício – expressava esses ideais.
Os generais não queriam saber de atos libertários, nem de espaços livres para aglomerações. Em 1966, atas da reitoria registravam desconfiança sobre o projeto, propondo reexaminar as “grandes áreas livres, jardins cobertos e outras ociosas”. Mesmo com as controvérsias, o desenho vingou e Artigas impôs um ritmo forte à Construtora Riskalla, para evitar novas encrencas com o regime.
Mas a FAU não deveria ter vindo sozinha e sim como parte de um sistema urbanístico no campus, o chamado “corredor das humanas”: uma avenida de faculdades onde os estudantes poderiam cruzar todos os edifícios a pé, dissolvendo barreiras e controles. Cada prédio tinha a autoria de arquitetos referenciais da Escola Paulista, como Carlos Milan, Joaquim Guedes e Paulo Mendes da Rocha; seria a expressão de um movimento. O projeto do corredor foi por água abaixo com o endurecimento da ditadura, restando apenas, além da FAU, um mal construído edifício da História e Geografia da FFLCH.
A FAU ficou pronta em fevereiro de 1969, três meses depois do Ato Institucional nº 5. Em abril do mesmo ano, o arquiteto – que já havia sido preso por doze dias e exilado no Uruguai por seis meses, em 1964 – foi cassado como professor na USP e afastado do trabalho (no edifício por ele projetado). Artigas só voltou para a faculdade em 1984, com o fim da ditadura, recontratado como professor assistente; seis meses depois morreu e nunca recebeu o título doutor honoris causa, várias vezes negado nos anos 80.


Projetando ruínas
As polarizações políticas se atualizaram no Brasil democrático e foram transpostas para o âmbito da descaracterização do prédio: “Desde que existe e é o paradigma de certa arquitetura, o edifício tem seus inimigos, que não querem que esse seja o legado paulista para a história da arquitetura; querem mesmo é ver o prédio no chão”, sintetiza Silvio Oksman, com mestrado sobre a preservação do edifício.
Já nos primeiros anos, a burocracia universitária, em sua ânsia por espaços, começou a criar puxadinhos no edifício. As obras, sem dialogar entre si, invadiram os espaços deixados vazios por Artigas. Nos anos 80, a continuidade espacial entre a praça interna e o jardim – entrada do “corredor das humanas” – foi mutilada com a instalação de salas administrativas. A mudança soou como provocação: o fechamento da entrada acrescentava meros 180m2 à gigantesca construção. Por outro lado, cerceava rotas de fuga, facilitando o sítio do local, num movimento contrário aos princípios da arquitetura. Logo depois, para enterrar qualquer possibilidade de fácil reabertura da passagem, um grande buraco foi cavado no exterior, supostamente para abrigar uma máquina de ar-condicionado nunca instalado.
Em 1997, veio outro golpe: a gráfica e as marcenarias de maquete, originalmente no interior do prédio, foram realocadas em um anexo lateral, numa construção de Gian Carlo Gasperini, bastante criticada pelos estudantes por parecer um galpão industrial, pouco acolhedor. Surgiram laboratórios de pesquisa fechados, delimitados por divisórias baratas vendidas em lojas de material de construção, “soluções tolas de idiossincrasias individuais de quem diz ‘eu preciso disso, uma divisória’”, como criticou Mendes da Rocha.
Os anos 90 também assistiram à proliferação, entre os vãos do prédio, de estruturas em madeira e telha de zinco, rapidamente apelidadas de “favelinhas”. As salas de 50 metros quadrados engoliram áreas livres concebidas para integração de alunos de diferentes anos. Em 2002, os estudantes, assumindo o paradoxal papel de guardiões da arquitetura, desafiaram a intervenção com pichações. A então diretora Maria Ruth Sampaio ameaçou com sindicâncias internas os envolvidos na “depredação”. As “favelinhas” foram removidas apenas em 2008, após pressão de alguns professores como Antonio Carlos Barossi.
A única exceção nessa desastrada sequência de intervenções foi a da biblioteca, no final dos anos 90, que conferiu versatilidade às instalações elétricas e melhorou o conforto dos usuários, com um novo mobiliário. Feita pelo Escritório Piratininga, a reforma mostrou naquele momento – mesmo em um espaço isolado, pensado sem relação com os demais – a possibilidade de alterar o espaço sem destruí-lo, respeitando a fluidez espacial.
Todos os diretores da faculdade empurraram com a barriga os graves problemas que se amontoavam. Entre 1999 e 2007, alguns módulos da cobertura foram lixados e impermeabilizados. Apesar dos altos custos (“um Fusca por módulo de 8 metros quadrados”, como se dizia), os resultados foram infrutíferos. Antes de concluída a metade da cobertura, os primeiros módulos voltavam a apresentar problemas. O processo nunca foi terminado.
A situação chegou ao fundo do poço no final da década de 2000, quando ninguém conseguia garantir a estabilidade da cobertura. Placas de concreto da treliça das vigas despencavam nos estúdios, no penúltimo andar. As infiltrações na laje transformaram a cobertura, já infestada por cupins, numa piscina com 500 mil litros de água entre as vigas. O líquido, acumulado no “caixão perdido” – o vazio dentro da estrutura –, dissolvia as fôrmas de madeira, por lá desde a construção. Surgiram goteiras, que formaram estalactites e estalagmites.

Faculdade em guerra
Em 2007, Sylvio Sawaya elegeu-se diretor da faculdade. Professor de projeto, era conhecido pelo discurso habilidoso e por fortes conexões políticas no governo tucano do Estado de São Paulo, para o qual desenhou a USP Zona Leste. Em sua campanha, descartando os estudos, propôs, em vez da custosa reimpermeabilização, a construção de uma sobrecobertura. Ou seja: uma nova estrutura no exterior do edifício, cobrindo-o por completo. A ideia foi estimulada pelo mesmo Gian Carlo Gasperini. Além da interferência estética, temia-se que a adição de mais carga afetasse a estrutura de 40 anos, já com trincas. Desde gestões anteriores como de Julio Katinsky (1995-1998), obras adicionaram novas camadas de impermeabilizantes à cobertura, além de tijolos e massas para melhorar o caimento da água.
Sawaya, por sua vez, defendia a sobrecobertura como viável e sutil, além de útil; em um dos raros esclarecimentos públicos, para a revista estudantil TJL em 2009, o diretor explicou o projeto, minimizando a importância visual da cobertura e destacando outras vantagens indiretas da intervenção: “O problema não é alterar o Artigas em um elemento que, no fundo, estava em cima, que não atrapalha esteticamente em nada. Não atrapalha. Não atrapalha a luz… Pelo contrario, melhora som, melhora poeira, eventualmente até o conforto térmico possa ser melhor trabalhado”.
A relação entre estudantes e diretor azedou desde o primeiro ano do mandato, por razões outras que não as reformas do edifício. A greve da USP em 2007 foi violenta: José Serra, então governador, transformou a Secretaria de Turismo em Secretaria de Ensino Superior, ameaçando a autonomia universitária. A reitoria foi ocupada por 51 dias, a USP não saía dos jornais e Sawaya se colocou como principal opositor ao movimento grevista. Juristas como Dalmo Dallari, porém, consideraram inconstitucionais os decretos do governador, que acabou voltando atrás.
Durante o conturbado processo, o Movimento Negação da Negação (MNN), trotskista, quis invadir a burocacria da FAU. A diretoria, ameaçada, retomou uma diretriz da reitoria da universidade – alinhada com a direção da faculdade – e partiu para o ataque, mirando o único ativo do grêmio: o aluguel da lanchonete, do xerox, da papelaria e da livraria. Ainda que esses serviços ocupassem construções de madeira em locais antes vazios, no piso do museu, o problema parecia ser de ordem jurídica, não arquitetônica. A diretoria afirmava ser ilegal esse usufruto, mesmo com a cessão histórica desse pavimento aos alunos. Para piorar, funcionários reivindicavam um lote para uma loja de lingerie, o que faria daquela área um verdadeiro camelódromo.
Enquanto isso, os projetos de reforma caminhavam longe dos olhos do público. A faculdade organizava homenagens a Vilanova Artigas, como a de novembro de 2007, quando foi inaugurada uma placa de vidro com a assinatura do arquiteto. Durante o evento, no exato momento de abertura da placa, estudantes jogaram sobre os presentes papéis picados nos quais se lia “Artigas morreu de desgosto”. Uma referência tanto ao estado do prédio, como ao processo seletivo a que o arquiteto, meses antes de sua morte, teve de se submeter, quando foi recontratado como auxiliar de ensino depois da cassação durante a ditadura. A mesma placa foi quebrada durante a tradicional Festa do Equador, organizada por estudantes, e depois reposta.
Ainda em 2007, pedaços de concreto que se desprendiam do teto obrigaram a direção – sob orientação da professora Claudia Terezinha de Andrade Oliveira – a instalar telas azuis amarradas no topo dos pilares, encobrindo a iluminação natural zenital. A tela, impossível de ser higienizada, logo ficou imunda; insalubre, o ambiente foi infestado por pombos. As aulas, porém, não foram interrompidas. Usando uma solução fácil, a direção tentou instalar espetos anti-pombos em beirais para afugentar os animais, mas eles não arredaram dos voos pelo promenade arquitetônico.
“Nenhum edifício aguenta tantas décadas sem manutenção estrutural”, constata Claudia, engenheira de formação, que tem acompanhado as obras desde os anos 2000. O concreto, aparentemente de grande resistência, mas muito poroso, é um material vivo, um bicho que requer cuidados, como dizia Lina Bo Bardi.
A situação se acirrou ainda mais entre 2008 e 2009. A cada mês, professores e alunos eram surpreendidos com novas intervenções. Os projetos começavam sem discussões internas ou aprovação nos órgãos de patrimônio histórico, como pede a lei. Em tese, o Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), no âmbito municipal, e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), estadual, zelam pela preservação do edifício: qualquer mudança na arquitetura precisa receber a aprovação de seu corpo técnico. “Quando chegávamos lá para avaliar os projetos, as obras já tinham começado ou estavam prontas”, lembra uma arquiteta do DPH que pede para não ser identificada.
Nada impediu, portanto, a diretoria de destruir uma escada de concreto na entrada e criar outra, em madeira, desconfortável ao ignorar a fórmula de Blondel, matemática básica para definir a altura de um degrau. Logo depois uma rampa também em madeira, com guarda-corpo que remete a arquitetura rural de chalés, foi instalada ao lado. Com Júlio Maia – professor que tinha seu laboratório nas antigas favelinhas –, Sawaya redesenhou setores administrativos, autoconvocado-se por uma carta-convite emitida pela diretoria da qual era o diretor. O projeto não removeu as salas da frente da antiga entrada e a execução total custou 150 mil reais.
Os departamentos foram refeitos por 660 mil reais. O projeto de Paulo Bruna recuava as paredes para o alinhamento original, porém as novas divisórias, em alumínio, emulavam as antigas de aço. A diferença? Os caixilhos executados quarenta anos antes pareciam muito mais leves e elegantes. As instalações elétricas – deixadas por último nessa reforma, como se tivessem sido esquecidas pelo projeto – passaram por pesados conduítes que desceram para as mesas como novos pilares. A mesma solução de pilar-falso para fios e cabos foi repetida na entrada da biblioteca, reformada menos de 10 anos antes e que contava com um inteligente sistema de descida de instalações, desprezado na nova intervenção.
Nem tudo era tão controverso: 660 mil reais serviram para recuperar as armações enferrujadas das vigas da cobertura, medida necessária e urgente, e com outros 81 mil reais abriu-se as colunas para manutenção das prumadas de águas pluviais – em uma obra nunca concluída já que os elementos pré-moldados, pensados para fechar os pilares, não foram instalados até hoje. Pouco depois, ao custo de 1,5 milhão de reais, os banheiros começaram a ser reformados. Hoje, passados anos, já estão em péssimas condições.
Diferentes intervenções, tocadas por arquitetos escolhidos pela diretoria, não consideraram o conjunto do prédio. Corriam rumores a respeito do andamento da sobrecobertura – orçada em 3,5 milhões de reais. Os órgãos do patrimônio histórico não haviam sido notificados até o início de 2009, como de costume.

O cheiro do jardim
E então veio o jardim. Assinado por Silvio Macedo, professor da FAU, utilizava esterco da Faculdade de Medicina Veterinária, então chamado como um novo tipo de superfertilizante desenvolvido na USP, cujo fedor era perceptível a mais de 500 metros. A falta de consenso político e estético aliada ao mau humor coletivo causado pelo odor de enxofre isolaram a diretoria, que recebeu apoio apenas do vice-diretor, Marcelo Romero, e outros poucos professores, como João Bezerra, Cláudio Portugal e Paulo Bruna.
Mesmo confrontado, Sawaya não estava disposto a recuar. Não ocupava, porém, o topo da hierarquia de poder da faculdade. Segundo o estatuto da USP, acima dele havia a Congregação, espécie de Congresso da faculdade, até então omissa sobre as reformas. Estudantes e arquitetos insatisfeitos passaram a pressionar a entidade, composta por aproximadamente 45 professores – sobretudo titulares e livre-docentes, com diferentes orientações políticas.
Reuniões a portas fechadas foram substituídas por grandes assembleias que deliberaram a elaboração de um Plano Diretor Participativo, com diretrizes de ocupação do espaço. Entre a ideia de um plano até sua aprovação final, em novembro de 2012, passaram-se três anos. Pela primeira vez na história da USP, um órgão oficial, o Conselho Curador, foi presidido por um estudante, Fernando Túlio. Uma das falas públicas de Alexandre Delijaicov – professor com grande influência nos alunos – tornou-se uma bandeira do momento político: “muita gente diz gostar do Artigas, mas na verdade odeia”.
O documento final do Plano, com 40 páginas, apresentou indicações genéricas sobre o uso do espaço e recomendações sobre metodologias para processos políticos internos, sem sugerir soluções de projeto. Um ex-estudante – que pediu para não ser identificado – acusou o Conselho Curador aberto de ser uma bomba de fumaça para legitimar, dentro de um processo dito democrático, obras já concluídas ou em execução. Por causa da longa duração na produção do plano, os representantes discentes nesse conselho – uma vez formados – foram praticamente todos substituídos e os novos “podiam ser facilmente manipuláveis por desconhecerem a história das discussões”, segundo o ex-aluno.
Mesmo assim, Beatriz Kühl, uma das maiores autoridades em restauro no Brasil e professora da faculdade, ressalta a importância do plano: “Lançou uma discussão coletiva e mobilizou a todos; as pessoas pararam para pensar no edifício da FAU e criaram diretrizes de como deveríamos trabalhar”.
Sawaya convidou Pedro Paulo de Melo Saraiva – arquiteto da Escola Paulista – para reelaborar seu projeto de sobrecobertura (ver link), numa última tentativa de não morrer na praia. No entanto, o mandato do diretor expirou e recolocou o edifício no centro dos debates. Pela primeira vez atacava-se sistematicamente a recuperação da cobertura, para a qual a faculdade dispunha de cerca de 10 milhões de reais. “Eu estava na sala quando vi o Sylvio Sawaya conseguindo o dinheiro junto ao João Grandino Rodas”, disse Marcelo Romero, sobre o reitor, depois acusado de onerar a folha de pagamento da universidade.
Ninguém queria o posto de diretor. Apenas seis de mais de duas dúzias de professores elegíveis não renunciaram de imediato à indicação. “Eu disse para o Sylvio que queria continuar o que começamos”, lembra Romero. Assim foi, para alívio de alguns professores e inquietação dos estudantes e admiradores do Brutalismo Paulista. Além do impasse político havia em curso um processo participativo e o edifício apresentava, cada vez mais, ameaças aos usuários.
A imagem pessoal de Romero contrastava com a do antecessor. Jovial, expansivo e prático, ele ficou conhecido por seus belos desenhos técnicos à mão livre como professor no Departamento de Tecnologia. Com pedras despencando do céu, um cheque assinado pelo reitor e o impasse estético do rumo das reformas, Romero agiu como gestor, não como crítico de arquitetura, e elaborou um edital público para recuperar – tecnicamente – a cobertura: a precariedade do edifício colocava as pessoas em perigo e havia verba, com prazo de validade, para corrigir essa condição. As propostas da sobrecoberta da gestão anterior foram rechaçadas.
As intervenções mais amplas já realizadas no edifício estavam prestes a começar. Mas como?

Sem projeto
Permanecia um problema básico. “Não havia projeto”, constata Rosa Artigas, historiadora e filha do arquiteto. “Tentei conseguir desenhos para enviar a especialistas na Itália. Depois de semanas, descobri só um memorial descritivo”. Claudia Terezinha Oliveira não pensa diferente: “Faltou projeto de restauro, e até um as built”, ou seja, um levantamento detalhado, com medidas construídas e o estado de conservação de cada canto. Etapas da obra foram queimadas logo de início. Beatriz Kühl segue no mesmo caminho: “Não houve um plano geral de intervenção, tampouco um levantamento métrico que reverteria numa obra mais precisa e menos cara”.
Romero entende o conjunto de intervenções das diferentes administrações como um projeto de arquitetura. “Está tudo lá, nos cadernos distribuídos para a comunidade”, diz, referindo-se às apostilas contendo as intervenções dos últimos seis anos. Mas quem é o autor desse projeto? É uma autoria coletiva? “Eu não sei responder a essa pergunta”, respondeu o então diretor.
Todo projeto de arquitetura precisa de autoria, inclusive para responsabilidades legais. Mais do que isso: o autor organiza as atividades e dá unidade ao conjunto. “Os projetos foram encaminhados por partes – reforma do sanitário, do Salão Caramelo, da cobertura. Solicitamos à FAU que protocolasse uma visão única das alterações dentro do prédio”, lembra Marco Antonio Winther, arquiteto do DPH da prefeitura paulistana. Tal medida nunca foi providenciada.
Durante as assembleias abertas de 2009, cogitou-se o nome de Paulo Mendes da Rocha, que além de discípulo de Artigas trazia no currículo o Pritzker de 2006 e os restauros da Pinacoteca e da Oca no Ibirapuera – essa última citada como o melhor exemplo de recuperação de patrimônio moderno no Brasil. “A FAU tem um Pritzker como professor, oras. Não poderia contratá-lo para fazer um projeto?”, pergunta a filha de Artigas.
No auge da crise, Mendes da Rocha chegou a ser convidado por Sawaya, mas sem condições de trabalho: o projeto não só carecia de verba, como tinha a agravante de ser vinculado a um diretor na berlinda. Haveria outros nomes gabaritados intramuros, entre outros: Alexandre Delijaicov, Álvaro Puntoni, Angelo Bucci e Milton Braga, com projetos estampados nas principais revistas de arquitetura do mundo, lembrados pela crítica como seguidores da tradição moderna da Escola Paulista. Nunca houve, no entanto, uma movimentação organizada para salvar o edifício.
Havia iniciativa e alguns milhões, mas a direção efetuou a concorrência pública prescindindo de um projeto de restauro – exigia-se apenas um plano de tratamento estrutural do concreto. Ganhou a licitação a empresa Jatobeton, de Pernambuco, especializada em recuperação de pontes e sem experiência em obras tombadas.
“O edital da licitação apresentado pela diretoria foi muito mal elaborado”, alerta Rafael Urano, crítico e professor da Unicamp: “Não tinha nada lá que garantisse a qualidade arquitetônica da intervenção”. Para Beatriz Kühl, o problema nas empenas da fachada era ainda maior: “Sobre elas não havia o mesmo conhecimento acumulado como no caso dos trabalhos da cobertura nos últimos vinte anos”.
No canteiro proibido
Rafael Urano, Alexandre Benoit e Guilherme Pianca – todos ex-alunos –, propuseram em 2012 o projeto de uma estrutura temporária no estacionamento da FAU (ver link), que abrigaria todas as atividades letivas no decorrer das obras. Orçada em 3 milhões de reais, ela permitiria aos estudantes frequentar o edifício durante a reforma, sem atrapalhar os trabalhos e aprendendo com o processo.
A ideia não foi adiante e a complexa reforma, com obras acontecendo dia e noite, lidava ainda com a rotina das aulas. Mesmo assim, os alunos acabaram não tendo qualquer ensinamento acadêmico com as obras dentro da própria faculdade de arquitetura; habitavam um canteiro que não podiam entrar, muito menos estudá-lo, desperdiçando uma oportunidade única para o aprendizado.
Em abril de 2014, a falta de manutenção resultou em momentos dramáticos que poderiam ter colocado em risco a vida dos usuários do espaço. A fiação elétrica de luminárias, velha e sobrecarregada, provocou um incêndio que se espalhou pelas telas azuis provisórias e consumiu parte de uma das salas de aula no último piso. O desastre só não foi maior porque a faculdade estava fechada para o recesso da Semana Santa.
Uma grossa poeira, nociva à saúde de alunos, professores e funcionários, cobria o prédio todo ao longo de todas as reformas, mas apesar disso o grêmio se pronunciou contra a retirada das atividades curriculares do prédio. Um dos maiores temores dos alunos era perder os aluguéis do piso do museu. “Deve-se tomar cuidado para que os estudantes não se transformem em censores conservadores, isso não vai ajudar”, pondera Rosa Artigas.

Como remendar fachadas
A Jatobeton efetuou testes e concluiu que 40% da fachada precisariam ser recuperados. Sob orientação da PhD Engenharia, de Paulo Helene, professor da Escola Politécnica que participava dos seminários e relatórios sobre a situação do prédio em 2006, a obra teve início. “A intervenção na empena foi muito experimental. Jamais poderiam ter começado o tratamento de uma superfície tão grande sem antes terem feito experimentos cuidadosos”, afirma Kühl.
Dessa vez, a faculdade conseguiu a aprovação nos órgãos de patrimônio, mas o procedimento foi pouco ortodoxo. A controversa reforma da fachada passou com letras pequenas, como um tópico secundário no conjunto das obras propostas e, na prefeitura, tramitou apenas pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Conpresp – órgão com membros escolhidos politicamente –, sem um parecer formal do corpo técnico do DPH.
A construtora recortou o concreto em todos os pontos que ofereciam perigo de desmoronamento; a armação de ferro deteriorada foi tratada. Depois, uma massa de cimento com aditivos, desenvolvida especialmente pela empresa PhD, preencheu os rasgos, transformando a fachada em uma trama com diversos tons de cinza. Esse material deveria ter a mesma cor da amostra inicial, mas não foi o que se viu. “Do ponto de vista técnico, para garantir a segurança dos usuários, a obra foi muito bem feita; esteticamente falando, deixou a desejar”, diz a professora Claudia.
Os arquitetos do Grupo Executivo de Gestão dos Espaços Físicos (GEEF), órgão da FAU responsável pela fiscalização da reforma, pareciam desolados com a Jatobeton e sua nova empena. “Isso daqui virou um grande laboratório”, concluiu Eunice Bruno.
Romero chegou a jogar a toalha. “Não dá para resolver esse problema da cor: dependendo da orientação da fachada e da cor original de cada área – que já não era uniforme –, a massa fica diferente”. E depois afirmou que a manutenção vindoura acabaria por agir em prol do prédio: “Em pouco tempo, tudo será igualado pela cor da cidade”, numa referência à chuva ácida e à poluição que atacam o concreto. Em seguida conclui: “Não tem que esperar ficar preto, de dez em dez anos é preciso dar uma limpadinha, os órgãos da FAU estão preocupados com isso”.
“É um processo complicado, sobretudo pelas ripas na textura do concreto”, explica Gabriel Regino, da Tresuno, especialista reconhecido em recuperação de concreto, convidado a visitar as obras na FAU especialmente para esse artigo. “Mas, antes de começar, sempre precisamos saber a cor real do material, com uma limpeza e escovação mecânica específica. Só assim acertamos o tom”. Na FAU, fez-se apenas uma escovação manual. E no fim da obra, não no início.
Em setembro de 2014, a dois meses do fim do contrato legal, Rodrigo Vergili – destacado pela PhD para acompanhar a obra – reconheceu: “Só estou mais otimista agora que conseguimos resultados melhores”. A solução encontrada foi escovar tudo e pintar com uma nata de concreto apenas os lugares onde houve recuperação, no intuito de corrigir a coloração destoante do patchwork da fachada.

No final de novembro, a precária uniformização da cor das massas sobre os rasgos já estava praticamente concluída, mas o resultado quebrava qualquer unidade da fachada: onde o concreto era original, a textura era viva; onde foi reconstruído, parecia uma cobertura artificial, lisa e sem profundidade.
“Essa intervenção na fachada é trabalho perdido, estraga o prédio”, afirma Silvio Oksman. Diferentemente do concreto original, a nova massa não exibia as ripas de madeira da fôrma. A solução encontrada? Desenhar artificialmente a linha da madeira, emulando o original, como um ornamento na fachada, justamente no edifício onde Vilanova Artigas havia defendido que “não tivesse a menor concessão a nenhum barroquismo”.
“O objetivo nunca foi disfarçar as intervenções, mas incorporá-las, conforme sugerem as cartas de restauro”, justificou Vergili na sala do GEEF. No entanto, essa parece ser uma leitura simplista, segundo os especialistas em restauro ouvidos, sobre convenções de restauro – como a Carta de Veneza de 1964 –, porque a solução fica nas mãos do acaso, chega a reboque das constatações de problemas ao longo da obra. Não é uma definição projetual, que deliberadamente imprime “a marca do nosso tempo”, como rezam os tratados internacionais.
Os problemas na intervenção na fachada não se repetiram na estrutura da cobertura, por dentro do prédio, onde o concreto liso e menos exposto ao tempo facilitava o processo. A complicada impermeabilização do teto estancou novas infiltrações. O diretor retirou a tela azul e os os 960 domos do teto foram substituídos por novos, em acrílico leitoso. “A cobertura ficará melhor do que quando nova”, comemorava Romero logo antes da conclusão dos trabalhos.
No entanto, sob as vigas, a intervenção foi novamente agressiva aos conceitos arquitetônicos do projeto de Artigas: a substituição da iluminação dos estúdios, antes feita por delicadas lâmpadas tubulares que pareciam flutuar, deram lugar a pesados sistemas de luminárias com quase 20cm de altura, verdadeiras vigas metálicas espessas dependuradas que – se olhadas em perspectivas – encobrem a treliça das vigas de concreto da cobertura. Em questão de meses, o modelo comprado se mostrou pouco robusto para o ambiente agressivo e várias luminárias se deterioram ou se desprenderam da frágil afixação na cobertura feita por canaletas metálicas.
Já a nova instalação de elétrica na parede dos estúdios constituiu uma das mais impressionantes imagens das alterações no prédio: em vez de traçadas pelo piso, vieram em conduítes aparentes que, quando encontram descontinuidades nas empenas divisórias, formam pequenos pórticos aéreos com indiscutível estética de improviso, de arremedo, de falta de desenho.
A ausência de projeto e ordenograma veio a vitimar também a vegetação do novo jardim em menos de cinco anos. Nem o superfertlizante salvou-as da obra feita logo depois no mesmo ambiente, literalmente, sobre a intervenção paisagística anterior.

Arquitetura em crise
Desde 2007, foram gastos quase 12,5 milhões de reais nas diversas obras, um quarto do valor estimado para o restauro de todo edifício – por volta de 50 milhões de reais, considerando 2 mil reais por metro quadrado, preço praticado no mercado para obras similares.
Restaurar obras modernas não é considerada tarefa fácil. O OMA, de Rem Koolhaas, tem se especializado em intervenções similares como a Garage em Moscou ou a Fondazione Prada em Milão. Suas obras trazem um desprendimento de sentimentos nostálgicos e evitam restaurar em excesso, preservando marcas do tempo. Todo o trabalho é precedido de pesquisa técnica e histórica. O inglês David Chipperfield, que fez o restauro do Neues Museum em Berlin, encara agora o desafio de recuperar uma das obras-primas do modernismo: a Neue Gallery, de Mies Van der Rohe.
Embora em uma obra pré-moderna, um bom exemplo no Brasil é a Pinacoteca de São Paulo, cuja reforma de Paulo Mendes da Rocha, em 1996, adicionou intervenções em aço nitidamente distintas do tijolo do edifício de Ramos de Azevedo. O levantamento durou vários meses e a obra englobou todo o prédio. “Os mesmos princípios das convenções de restauro das edificações mais antigas podem ser aplicados às modernas; preservar não é reconstruir: poderia até ser mais barato, mas você apagaria os erros – que também fazem parte da obra”, explica Oksman.
O processo de descaracterização da arquitetura da FAU – com a justaposição de várias camadas diferentes de intervenções – é emblemático porque, justamente em sua própria casa, no edifício-símbolo da história moderna de São Paulo, os arquitetos lançaram mão de sua principal ferramenta de atuação: o projeto. “Projeto se faz antes da obra, e não durante. Quer ver se uma argamassa chega ao tom pretendido? Faça testes fora da obra, não é para sair quebrando tudo e depois passar um palitinho na fachada para fingir que é a junta da fôrma”, conclui Oksman.
A crise da arquitetura se mistura com uma crise política e de gestão. Dalva Thomaz, do DPH, lembra que a possibilidade de conseguir financiamento público sempre esteve na mesa. “Já alertamos diversas vezes a faculdade que, por ser uma obra tombada, seria possível conseguir financiamento pela Lei Rouanet. Houve um descolamento: a melhor escola de arquitetura do país – com os maiores especialistas – nunca viu o prédio como um projeto de restauro, mas como obras emergenciais”, conclui.
Com exceção das obras na cobertura, todas as inúmeras intervenções feitas desde a inauguração do prédio estão prontas para serem refeitas, seja pela inequação a conceitos fundamentais da obra de Artigas e falta de pertinência de conjunto, seja pela baixa manutenção ou desconhecimento técnico.
Visões políticas e estéticas individuais se sobrepuseram ao conhecimento e história da arquitetura. Iniciativas de criar processos perenes e precisos e amplos de recuperação do prédio ficaram então relegadas a segundo plano. Enquanto isso – como um agrupamento praticamente randômico de intervenções –, a arquitetura se desfaz e se desmorona, sob o espectro dos conflitos passados, sob o espectro de seu próprio arquiteto e da política universitária e nacional. As novíssimas e brilhantes interferências no edifício da FAU são como ruínas modernas, ruínas às avessas, construções-já-ruínas; procuram fazer da arquitetura um objeto distante, seja envolvido pela incompreensão dos arquitetos sobre a própria arte e escola ou pela tentativa velada de desmerecimento de um projeto político-arquitetônico – agora em frangalhos, um simulacro de ideais, uma síntese da própria crise da arquitetura.
Gabriel Kogan,
arquiteto formado pela FAU/USP; trabalha como jornalista colaborando para veículos como a Folha de S.Paulo, A+U (Japão) e Revista Bamboo.
Clara Werneck,
estudante de arquitetura na FAU/USP.
Rafael Craice,
fotógrafo e arquiteto formado pela FAU/USP.