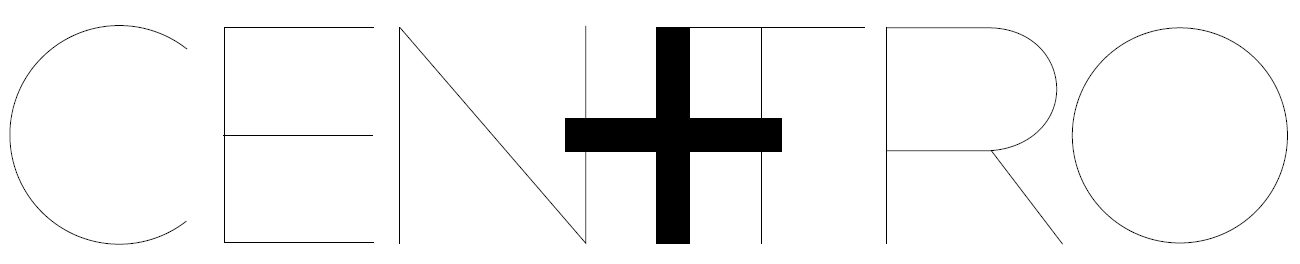TEXTO RAPHAEL GRAZZIANO
FOTOS PEDRO VANNUCCHI
O EFICIENTE MOTOR DO STATUS QUO
Desdobrando a eficiência dentro da sustentabilidade capitalista
Para o otimismo tecnológico contemporâneo, qualquer problema teria uma solução técnica possível; no caso da crise ecológica a despontar, essa resposta caberia à eficiência. Por meio dela, garantiríamos a preservação do ambiente ao economizarmos recursos naturais e energéticos; a eficiência seria o rompimento com práticas de consumo excessivo e indevido. Esse texto pretende interrogar a validade dessa ecologia centrada na eficiência – para apontar a sua insuficiência na crise ecológica, ou mesmo seu protagonismo na reprodução do econômico.
O exame da ideia de eficiência pode soar contraintuitivo, sobretudo se considerados os esforços cada vez mais generalizados de redução no uso de energia, água e demais recursos naturais. Segundo dados da Royal Institution of Chartered Surveyors, 40% do consumo de matérias-primas se dá na construção civil; além disso, a operação dos edifícios e os setores ligados a sua construção ainda são considerados responsáveis por cerca de 30% das emissões de gases do efeito estufa.
Parece coerente, pois, em meio a tão vultoso consumo, pensar a eficiência no uso de recursos como tática para manter a integridade do ambiente e ao mesmo tempo prover as benesses de um crescimento econômico prudente. Além disso, se considerarmos os ciclos de obsolescência comercialmente programados e o desperdício estruturalmente projetado, a eficiência não levaria apenas ao debate sobre o uso socialmente adequado de recursos, mas também às raízes da disfunção produtiva atual. Assim, a partir dessa concepção socialmente disseminada, poderíamos supor até que a eficiência é uma crítica radical à cultura capitalista do desperdício.
No entanto, ao desdobrarmos a noção de eficiência, revelam-se contradições que a distanciam dessa crítica radical: muito pelo contrário, a eficiência é uma noção básica da produção capitalista. Se colocada entre os polos de preservação e agressão ao ambiente, defendemos a atração da eficiência pelo segundo, como argumentaremos a seguir.
Confluência entre ambiental e econômico
Como discurso oficial, a aproximação entre sustentabilidades ambiental e econômica aparece no Relatório Brundtland, em 1987. Há uma reordenação conceitual que permite o anteriormente ilógico. Até então, crescimento econômico e integridade ambiental eram intrinsicamente conflituosos: o primeiro significava aumento da extração de recursos para a produção de mercadorias, e com isso igual intensificação da deterioração do meio ambiente. Com o Relatório, parece não mais haver um campo em disputa, mas um jogo harmônico de fatores: surge o “desenvolvimento sustentável”, formulando a equação na qual avanço tecnológico e crescimento econômico têm como produto a redução da pobreza e o estancamento da crise ecológica.
Mas, para essa reorganização harmônica do problema, todos devem ceder. “Economia não é meramente a produção de riquezas, e ecologia não é meramente a proteção da natureza”; cria-se uma noção de consenso arquitetado, como se o recuo – suposto, pois nunca posto em prática – na voracidade das margens de lucro tivesse como contrapartida razoável uma ecologia ciente de seu devido lugar e que sabe guardar silêncio quando atrapalha demais os ciclos de produção e consumo. Na retórica da criação de consenso, somos salvos pela corda do enforcado.

Ecoeficiência
A partir dos anos 90 surge o Fator X, no qual X representa um aumento de eficiência e “desmaterialização da economia” com valor variável entre 4 e 50 vezes, a depender do proponente – veja-se, por exemplo, o livro Natural Capitalism, de Paul Hauken, Amory Lovins e Hunter Lovins. Nesse debate, chegou-se a aventar a possibilidade de que o crescimento econômico era potencialmente infinito caso esses ganhos fossem alcançados.
Essa aproximação entre sustentabilidade ambiental e econômica é possível porque a eficiência é tanto redução de recursos quanto de custos. Além de sua justificativa ambiental, essa aproximação representa, portanto, um interesse corporativo por produzir processos similares, mas com menores dispêndios.
Assim, a eficiência é uma garantia a longo prazo da segurança do investimento, a partir da postergação de riscos, na medida em que o sistema produtivo se torna menos dependente de recursos. Nesse sentido, garante-se a manutenção das condições de reprodução social, na qual a mesma base energética e produtiva poderia continuar em funcionamento por um tempo extra, adiando custosas mudanças. Fique claro: mudanças essas que não têm nada de revolucionárias e não representam a crise do capital, como apontado por Zizek no texto reproduzido neste número, e adiamento esse que pode ser ilusório, como indicaremos mais à frente.
Em relação ao mercado imobiliário, a sustentabilidade ambiental, sobretudo aquela caucionada pelas mais diversas certificações de atuação internacional, pode conferir a um empreendimento diversas vantagens competitivas, como o aumento do valor de comercialização do metro quadrado e sua menor depreciação em períodos de crise, assim como a redução da taxa de vacância.
Sustentabilidade seria então, por um lado, ambiental: a menor utilização de recursos garantiria que sua depleção no ambiente não seja tão drástica. Por outro lado, econômica: a eficiência reduz custos, dá sobrevida a uma fonte de recursos e previne processos produtivos de crises de abastecimento.

Ecomodernização
Nesse movimento do pensamento em que novas noções operativas são gestadas há ainda mais um elemento: a constituição, dentro da sociologia ambiental, da chamada modernização ecológica. Essa teoria surgiu no início dos anos 80, capitaneada por Joseph Huber e Martin Jänicke e, num segundo momento, por Gert Spaargaren, Arthur Mol e Frederick Buttel, em meio ao espírito ecológico-econômico que culminou no Relatório Brundtland e a partir dali tornar-se-ia hegemônico.
Para nossos interesses, destacamos três características da modernização ecológica.
Primeira: a abordagem do problema ambiental dentro da esfera produtiva. Não há mais qualquer oposição à organização técnica vigente, tal como houve nas primeiras experiências ecológicas na década de 60; antes, aceita-se a sua conformação e dela se desenvolve o controle de danos ao ambiente: o modelo produtivo é o mesmo, mas o ciclo é posto em marcha de modo mais eficiente, gastando menos energia e utilizando materiais que geram menos resíduos. Como atrativo para as corporações, sustenta-se que práticas inovadoras do mercado seriam capazes de não só diminuir o consumo de recursos e o descarte de resíduos, como também aumentar os lucros das empresas.
Segunda: a crise ecológica é vista como crise do Estado, que, por sua organização burocrática, seria incapaz de legislar sobre o meio ambiente. Novamente, a dinâmica do mercado permitiria sua autorregulação e a tomada da dianteira na redução dos riscos ao ambiente. O Estado passaria a ser, inclusive, um dos maiores inimigos do movimento ambientalista, devido às catástrofes geradas por grandes obras de infraestrutura; o mercado, por seu turno, estaria pleno de alianças bem-sucedidas entre ambientalistas e corporações.
Terceira: o esforço em colocar a ecologia como um campo decisório autônomo, na qual suas pautas seriam indiferentes ao espectro político tradicional, inaugurando uma nova frente ideológica distinta do tradicional par liberalismo-comunismo.
Se é assim que sintetizamos a posição dos modernizadores ecológicos, é para apontar a incredulidade com que lemos seus argumentos, cuja parcialidade é em larga medida insuficiente para tratar das experiências sociais de luta ambiental. Num esforço de arrazoamento, poderíamos pensar essa oposição ao Estado como uma crítica a uma organização do poder que levou a Chernobyl, ou, mais recentemente, a Belo Monte. Mas é assombroso constatar o desvio de casos cabais como Bhopal e Cubatão, para exemplos da época, ou, na pauta do dia, Mariana.
Ainda em relação aos modernizadores ecológicos, é igualmente estranho não considerarem as grandes obras de infraestrutura como resposta a demandas de mercado, pois a circulação de mercadorias depende de uma organização territorial que não pode ser realizada pelos instrumentos disponíveis à iniciativa privada. Do mesmo modo, é sintomática a defesa feita da ecologia como esfera autônoma, para logo apontarem, no mesmo parágrafo e sem hesitação, como uma consequência lógica e já esperada, as “afinidades eletivas” entre economia e ecologia, ou verem o novo “sujeito transformador” no “cidadão-consumidor”, dois termos aproximados sem peias.

Fetichismo verde
Os modernizadores ecológicos mantêm intacta a crença no potencial emancipatório do modelo técnico moderno, desconsiderando sua vinculação estreita com a otimização da produção industrial – historicamente tomada em seu potencial de maximização de lucro e não em sua potência de generalização de acesso a bens de necessidades sociais básicas. Os modernizadores ecológicos conformam o par economia-ecologia, e é por esse diapasão que se afina a carga simbólica da sustentabilidade.
Como se não bastasse o uso da eficiência para otimizar a produção e aumentar lucros, a sustentabilidade liga-se ainda a diversas pulsões do know-how liberal: veja-se, por exemplo, o certificado norte-americano Leadership in Energy and Environmental Design, que assegura pontos para os projetos “inovadores” e cuja intenção da homofonia do acrônimo LEED com o verbo to lead é explícita; veja-se também a cidade de Masdar, no Golfo Pérsico, cujo significado em árabe é “Fonte”, no sentido de origem e partida de uma nova era sustentável – e também, por que não, de uma nova matriz produtiva, em busca da diversificação econômica para escapar da escassez insinuada no horizonte; veja-se, por fim, a King Abdullah Economic City, cuja interpretação da homofonia entre seu acrônimo KAEC e a sobremesa cake é deixada para livre exercício criativo do leitor.
Parênteses: antes de continuarmos a puxar nosso fio, notemos que a divulgação publicitária da King Abdullah Economic City representa muito bem a espetacularização da sustentabilidade urbana contemporânea, com site apresentado por um trailer dotado de trilha sonora de suspense levemente étnica (como convém às cidades globais), gráficos e planos vertiginosos, além de citações de Nelson Mandela suficientemente inofensivas para serem encontradas em qualquer social media. Em relação a seu plano urbano, a eficiência como noção central de sustentabilidade legitima aqui morfologias regressivas: zonas monofuncionais, centro comercial de arranha-céus high tech fotogênicos e setor residencial de mansões.
Paradoxo de Jevons
Em meio a aumentos de taxa de lucro e fetichismos verdes, poderíamos ao menos pensar que, independentemente do ponto de vista político adotado, garantimos, através da eficiência, a redução da agressão ao ambiente, e isso já seria justicativa suficiente para seu emprego. Pois bem, aqui tampouco há consenso. E a linhagem teórica é inesperada e insuspeita: trata-se de um dos fundadores da Escola Neoclássica, o inglês William Stanley Jevons.
Suas análises da eficiência foram redescobertas pelo ecomarxismo no início desse século, sobretudo pelo grupo em torno da revista norte-americana Monthly Review. O economista inglês se deparou com um impasse: em vista da possibilidade da escassez do carvão acabar com a supremacia econômica britânica do fim do século XIX, sua análise não encontrava escapatória para o problema: a ameaça não só era real, como tampouco poderia ser resolvida por novas soluções tecnológicas. Isso porque, e aqui se conforma o Paradoxo com seu nome, Jevons argumentava que aumentos de eficiência levam a aumentos de demanda no longo prazo. A inovação tecnológica apenas levaria à aceleração do consumo do carvão.
A conclusão foi aceita mesmo em sua época, pois podia ser empiricamente verificada no cotidiano industrial. Jevons demonstrava como ganhos de eficiência eram reaproveitados para a expansão econômica, permitindo o domínio de uma maior fatia do mercado e, no limite, o aumento do consumo dos bens produzidos, disponíveis agora a preços mais baixos. Inovações na eficiência do uso de carvão nas máquinas à vapor, por exemplo, teriam levado ao crescimento significativo da produção de bens e à substituição da força de trabalho por maquinaria: permitia-se, assim, negócios comercialmente inviáveis em modelos anteriores.
O caos energético e a transformação geopolítica advogados por Jevons não se tornaram realidade: ele não contava com o estabelecimento de uma nova matriz energética por meio do petróleo, o qual chancelou a continuidade do progresso econômico. Mas percebeu as contradições que a eficiência encerrava em si, mesmo se não fosse de modo algum anticapitalista. Citamos um trecho do artigo “Capitalism and the curse of energy efficiency: the return of the Jevons Paradox”, publicado por John Bellamy Foster, Brett Clark e Richard York na Monthly Review de novembro de 2010 (que tem acesso online livre, tradução nossa):
“Um sistema econômico voltado ao lucro, acumulação e expansão econômica sem fim tenderá a usar qualquer ganho de eficiência ou redução de custos para expandir a escala geral de produção. A inovação tecnológica será, portanto, fortemente dirigida a esses mesmos fins expansionistas… Como vimos, economias em materiais e energia, no contexto de um dado processo de produção, não são em nada novas; elas são parte da história cotidiana do desenvolvimento capitalista… Qualquer noção de que a redução na taxa de transferência de materiais, por unidade do rendimento nacional, seja um fenômeno novo é, portanto, ‘profundamente ahistórica’.”
Assim, como Bellamy et al. (2010) defendem, acreditar que a eficiência seja uma nova forma de encarar a produção de bens, opondo-se ao desperdício sistêmico, é um julgamento ahistórico: todo o curso do capitalismo, desde suas máquinas mais primordiais, é o do desenvolvimento de eficiências para permitir a expansão econômica. A eficiência não pode ser uma saída de nosso impasse atual porque foi justamente ela que nos trouxe aqui.
Entretanto, embora numa leitura sociológica o Paradoxo de Jevons tenha argumentos suficientes, sua aceitação na economia é pequena. Por tratar da soma dos comportamentos dos empresários, o Paradoxo é dificilmente verificável em termos quantitativos: sua análise macroeconômica tem pouca repercussão num momento em que a economia é pensada por meio de agentes isolados se regulando mutuamente.

O que fazer, senão eficiência?
Tal como em Jevons, parecemos não ter saída, pois qualquer ação tenderia a resultados catastróficos. Mesmo se pensarmos, por exemplo, em acelerar a eficiência a um ponto em que sua apropriação econômica esteja sempre atrasada, gerando como resto a preservação do ambiente, ao fim e ao cabo a conta ainda parece não fechar.
A eficiência é um conceito sempre obsoleto: qualquer mercadoria já está defasada em seu próprio lançamento (e aqui também incluímos a arquitetura), vítima do desenvolvimento técnico acelerado. Se seu emprego é um elemento congênito à produção capitalista e à expansão econômica, então o problema é manter a eficiência como elemento central da ecologia, sem complementação de outras frentes, de maneira que novas lógicas produtivas, não restritas ao modus operandi capitalista, possam se estabelecer.
Nem as dimensões, nem o escopo desse texto pretendem avalizar um novo caminho para a sustentabilidade. Contudo, com a crítica da eficiência, não queremos defender um salto para trás, um neoludismo a se opor ao desenvolvimento técnico, mas somente apontar que a refundação sustentável das cidades precisa dar conta de outros aspectos além da busca unívoca de otimização energética – que, em campanhas como as de pintura branca para coberturas, apresenta uma de suas caricaturas mais impudentes.
Raphael Grazziano,
arquiteto, doutorando pela FAU/USP, com pesquisa sobre os fundamentos da sustentabilidade difundida na arquitetura contemporânea.
Pedro Vannucchi,
fotógrafo e arquiteto formado pela FAU/USP.