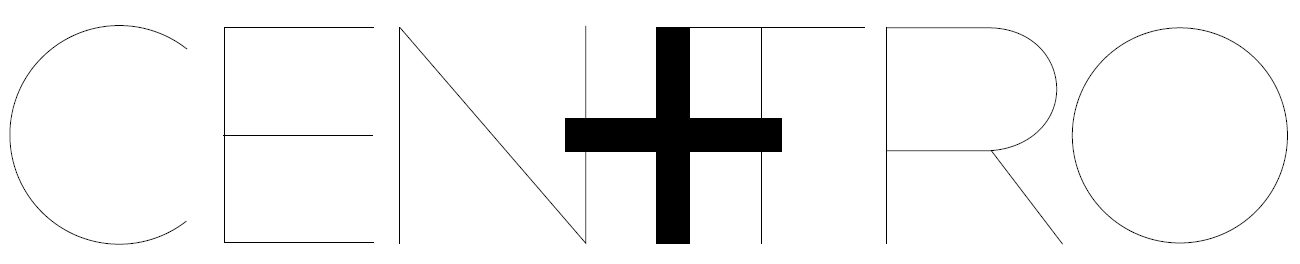TEXTO SLAVOJ ŽIŽEK
TRANSCRIÇÃO, TRADUÇÃO E EDIÇÃO GABRIEL KOGAN
FOTOS CIRO MIGUEL
ECOLOGIA SEM NATUREZA
A ecologia se tornou, predominantemente, a “ecologia do medo”, cabendo perfeitamente na política atual – a “política do medo”
Hoje é fácil fazer graça com a noção de Francis Fukuyama a respeito do fim da história, desenvolvida nos anos 90. Mas estamos cientes que a maioria de nós aceita o capitalismo liberal democrático como a fórmula final encontrada para a melhor sociedade possível? Até mesmo grande parte da esquerda atual propõe apenas fazer um pouco melhor: “mais serviços sociais para os desprivilegiados”, “mais tolerância” e por aí vai.
Porém, praticamente ninguém questiona fundamentos básicos. A democracia política é um fórum definitivo? Precisamos de um estado? O capitalismo sobreviverá? Todas essas questões formuladas nos anos 70 acabaram por desaparecer. Eu traduziria a atual situação em apenas uma pergunta: aceitamos essa naturalização do capitalismo ou o capitalismo global contém alguns antagonismos fortes o suficiente para prevenir sua reprodução indefinida?
A razão pela qual me mantive marxista não é pela crença numa nova classe operária conduzida pelo partido leninista. Sou pessimista. Vejo na atual constelação global quatro antagonismos nos quais os problemas não podem ser resolvidos automaticamente a longo prazo, dentro da estrutura capitalista da democracia liberal.
Ecologia
A primeira das contradições é a ecologia. A persistência na maneira na qual o Estado lida com os paradigmas ecológicos – combinada com a infinita adaptabilidade do capitalismo – formula uma situação ainda mais catastrófica.
Em uma nova catástrofe ecológica global, o capitalismo usaria a situação para abrir novas formas dinâmicas de investimentos. Com a tese do aquecimento global, por exemplo, e de áreas inteiras inabitáveis, poderíamos cinicamente imaginar empresas imobiliárias oferecendo boas e novas localizações para construir casas no Ártico ou na Antártica.
Mas não há qualquer ilusão aqui. A natureza dos riscos envolvidos na ecologia, fundamentalmente, impede uma solução de mercado. Por quê? O capitalismo é muito eficiente, mas funciona em condições sociais precisas. Ele implica numa confiança em mecanismos de mercado – a mão invisível – para garantir que a competição entre igualdades individuais trabalhe para o bem comum.
No entanto, esses mecanismos funcionam apenas quando nossos atos individuais são parte do que – na velha linguagem hegeliana – chamamos de “substância social”: não importa o quê você faça, desencadeará uma contra ação – mesmo sendo uma catástrofe – e a vida continua, contrabalanceada por diferentes forças; então nós apenas animamos um processo social maior. Porém, estamos atingindo limites dessa lógica.
Hoje, talvez pela primeira vez na humanidade, a ação de um único agente social e político pode modificar – e até mesmo interromper – todo um processo histórico global. Catástrofes atômicas ou qualquer coisa do tipo podem mudar tanto as coisas a ponto de não sermos mais capazes de jogar esse jogo chamado por Hegel de “tempo da consciência”: você faz algo errado, mas a história corrige. Pode ser simplesmente: você faz algo errado e dá tudo errado.
Isso formula um limite para soluções capitalistas de longo prazo porque o mercado funciona na base do erro e acerto – você tenta algo, outra pessoa faz diferente – e, a partir de tentativas sucessivas, soluções aparecem. Mas podemos imaginar ameaças de catástrofes nas quais não podemos arcar com lentos processos de erro e acerto.
Em outras palavras, o paradoxo é: somos onipotentes porque um único ato pode destruir todo o balanço do nosso ambiente, mas não sabemos como somos onipotentes; não podemos prever as consequências dos nossos atos. Nessa situação, o capitalismo não pode fazer seu trabalho.
Biogenética
A segunda contradição no capitalismo moderno é o desafio do desenvolvimento tecnológico e científico, especialmente na biogenética. A maior consequência dos avanços da biogenética é o fim da natureza. Ou seja, uma vez conhecida as regras da construção de um organismo natural – como se reproduz, seu genoma etc. –, esses organismos naturais são transformados em objetos passíveis de serem manipulados.
A natureza – humana e não-humana – é, dessa forma, dessubstancializada, destituída de sua impenetrável densidade. A natureza não é o que está fora, independentemente de nós; natureza é a densidade do sistema da vida, algo inconcebível. Isso está desaparecendo hoje.
A perspectiva da biogenética não é apenas manipular intervenções biogenéticas, mas também criar formas artificiais de vida, totalmente novas – usa-se o termo vida #2. Porém, até mesmo isso é utopia. Uma vez feito, a vida natural perde seu caráter natural e se torna vida #1. A natureza, como essa entidade viva e pulsante, se torna um mecanismo transparente. Como lidar com algo que, novamente, não pode ser solucionado dentro das estruturas do capitalismo?
Propriedade intelectual
A terceira tensão no capitalismo atual é a óbvia e inapropriada propriedade privada para da produção intelectual. O maior problema da nova indústria digital é como manter a forma da propriedade privada dentro da manutenção da lógica do lucro. Complicações legais da biogenética também apontam para a mesma direção. A proteção da propriedade intelectual é também o elemento-chave para novos acordos internacionais de negócios.
Se você deixa a lógica da propriedade privada dominar a questão, então nos achamos numa situação na qual potencialmente uma grande empresa detém os commons [recursos comuns ou bens comuns]. É muito arriscado permitir isso. Se deixarmos o mercado livre, chegaremos ao ponto de empresas de biogenética deterem propriedade sobre todas as nossas ferramentas. A Microsoft – por exemplo –, sem a intervenção do Governo dos Estados Unidos, deteria, em certo momento, os meios autênticos de comunicação.
Apartheid
Por último, entre as contradições do capitalismo atual estão as novas formas de apartheid – novos muros e pessoas vivendo excluídas em favelas. É crucial comparar 11 de setembro de 2001 com 9 de novembro de 1989 – quando o muro de Berlin caiu. Usualmente, as pessoas falaram: “isso foi o fim das utopias, finalmente aceitaram a realidade capitalista da forma como ela é”.
Mas a verdadeira utopia foi nos anos 90, a utopia de Fukuyama: “nós achamos a fórmula” – esse capitalismo liberal a ser melhorado em um ou outro ponto. O significado histórico de 11 de setembro é precisamente o fim dessa utopia. A história está de volta. O muro de Berlin caiu, mas agora temos guerra entre Israel e a Cisjordânia, ao redor da União Europeia, na fronteira entre Estados Unidos e México e por aí vai. As consequências disso são assombrosas e não temos consciência disso.
Houve breves notas nos jornais sobre um estranho julgamento na pequena ilha de Lampedusa, no sul da Itália, em setembro de 2007. Sete oficiais tunisianos foram réus por tentarem salvar 44 imigrantes africanos da morte no mar. Eles trouxeram os náufragos para essa ilhota – o pedaço de terra mais próximo – e os oficiais tunisianos foram imediatamente presos por trazerem imigrantes ilegais, ficando sujeitos de 1 a 15 anos de prisão.
Esse incidente confirma a noção de Giorgio Agamben de Homo Sacer – sobre o excluído da ópera civil, morto impunemente – como plenamente operante na Europa atual, que tanto se presa como o bastião definitivo dos direitos humanos e da ajuda humanitária. No meio dessa Europa dos direitos humanos um grupo foi confrontado por tentar salvar pessoas – incluindo grávidas e crianças – encontradas numa situação muito próxima da morte no meio do oceano. Tudo que fizeram foi salvá-las, por isso os oficiais foram julgados! Existem casos documentados de exemplos inversos, quando pescadores encontraram refugiados no mar, próximos da morte, e eles simplesmente se livraram deles, deixando-os morrer. Não foram julgados.
É crucial não opor isso a um tipo de adereço da nova noção de ajuda comunitária liberal; é, de fato, o inverso – a mesma face da moeda – do humanitarismo: quando fazemos ajuda humanitária fazemos para manter o outro distante. Cada vez mais, em vez da velha luta de classes, a nova forma de divisão social fundamental é, simplesmente, a divisão entre os que estão dentro e fora; fora do controle. Há aqui um fenômeno paradoxal interessante.
Atualmente, um dos lugares-comuns é “moramos numa sociedade com total controle; mesmo sem terrorismo político, como no stalinismo e fascismo; somos observados a todo instante”. Mas na maioria dos países – até mesmo nos desenvolvidos como os Estados Unidos – cortiços e favelas estão crescendo. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas no mundo. E não estou usando esse termo com qualquer sentimento cristão ou de forma metafórica. Defino favela como lugares nos quais o poder do estado retira seu controle, ficando de fora da ópera civil.
Invoco então a história da escritora alemã – parcialmente dissidente, parcialmente membro do antigo Partido Democrático alemão –, Christa Wolf. Ela reportou, nos tempos no partido, sobre o passeio com sua pequena filha na torre de TV de Berlin Oriental, de onde se podia ver o Ocidente. Berlin representava nos mapas a área ocidental como inteiramente vazia, como se não tivesse nada. Christa Wolf conta que sua pequena filha – olhando dessa torre para o Ocidente – disse: “Olha, mãe! Não é branco, existem pessoas lá”. Uma grande surpresa.
Talvez devêssemos fazer isso. Temos, mais e mais, em nossos estados modernos, esse tipo de áreas vazias. Se a principal tarefa da política emancipatória do século 19 foi quebrar o monopólio liberal burguês por meio da politização de pessoas comuns, a classe trabalhadora; se a tarefa do século 20 foi politicamente conscientizar as imensas populações rurais da Ásia, da África, América Latina; talvez a principal tarefa do século 21 seja politizar e disciplinar essa estrutura excluída das massas em favelas.
Ideologia
Essa sequência de quatro problemas insolúveis a longo prazo pelo capitalismo são atos de um mesmo espetáculo. As três primeiras contradições envolvem os chamados bens comuns – o cerne da substância de nossos seres sociais. Primeiramente, os bens comuns da natureza exterior, o ambiente natural ameaçado por poluição e exploração. Temos então os bens comuns da natureza interior, a biogenética inerente à humanidade. Além disso, há os bens comuns da cultura, o capital socializado comum – linguagem, comunicação, educação.
Vamos focar na ecologia, não por ser a mais importante dessas contradições, e sim por representar o exemplo crucial da luta ideológica atual. Sendo radical: de um lado, o problema soa incurável, fala-se em sobrevivência dos seres humanos; por outro, a própria ideologia emerge da ecologia.
Ideologia não é uma ideia abstrata e descabida que ofusca problemas reais. Ao contrário, o poder da ideologia é lidar com problemas reais, conferindo-os um senso de mistificação. Essa é sua sedução: cria-se uma adaptação para dizer algo, porém não se vê mais àquilo como um problema.
Fico sempre muito tentado, por exemplo, a rejeitar a noção de tolerância. Por um lado, designa um problema real. Quando ataco a tolerância, imediatamente sou confrontado: “Você está louco? Você não vê como um problema a intolerância, o racismo, o sexismo?”. Sim, mas não é perceber o problema do racismo como um problema de tolerância. E aqui está a ideologia.
Busquei pela palavra tolerância em todos os principais discursos de Martin Luther King – o maior pensador do século 20 na luta contra o racismo – e o termo praticamente inexiste em seu vocabulário. Para ele, o racismo branco norte-americano não era um problema de tolerância, era um problema político ou de justiça econômica. Seria humilhante e ridículo ele falar “nós queremos mais tolerância dos brancos”. Da mesma forma, uma mulher, com o mínimo de orgulho feminista, acharia também ridículo dizer: “o objetivo do feminismo é ter mais tolerância dos homens”.
O que percebemos como intolerância – racismo, violência – é um problema. Por que esse problema é percebido como um problema de tolerância e não de política ou justiça econômica? Aqui vemos a ideologia acordar: um problema real mistificado.
Ideologia ecológica
Estamos atingindo uma situação pós-política, no qual poder e relações ecológicas são cada vez mais despolitizadas para que batalhas sejam traduzidas em conflitos culturais.
O mesmo acontece na ecologia. A ecologia se tornou, predominantemente, a “ecologia do medo”, cabendo perfeitamente na política atual – a “política do medo”. Temos enorme expertise tecnocrático nas administrações pós-políticas. Se quisermos dar um passo adiante e introduzir a paixão a essa política, a única via – infelizmente, mesmo a adotada pela esquerda – é invocar algum tipo de medo: medo dos imigrantes, medo do terror, medo de catástrofes naturais. Assim, as pessoas são mobilizadas pelo medo.
Essa ecologia do medo tem todas as chances de se desenvolver como nossa ideologia predominante; o novo – e uso aqui, ironicamente, um termo marxista para religião – ópio das massas. Isso pode substituir os fundamentos religiosos básicos e instalar uma autoridade inquestionável para impor limites.
A lição dessa ecologia do medo está constantemente desafiando nossos sentimentos: “nós somos agora elementos cartesianos abstratos extraídos da realidade; somos seres finais inseridos na biosfera que vastamente traveste nossos horizontes; usamos os recursos naturais e, ao fazermos isso, estamos pegando-os emprestado do futuro e, portanto, precisamos tratar a Terra com respeito – como algo sagrado, algo que não pode ser totalmente invadido; a Terra seria um poder a ser confiado e não dominado”.
Embora os ecologistas estejam – a todo instante – demandando alterações rápidas no nosso modo de vida, há nas entrelinhas dessas demandas uma profunda refuta por mudança, por desenvolvimento e progresso; toda mudança radical pode desdobrar mudanças catastróficas. Esse ponto faz da ecologia uma candidata para ser uma ideologia hegemônica, a partir do momento em que ecoa a angústia não totalitária de grandes ações coletivas. A mensagem subliminar desse projeto predominante da ecologia ideológica é profundamente conservadora: toda mudança só pode ser para pior.
O que está errado aqui? O primeiro pressuposto; a existência de algo como a natureza na qual os humanos – sem rubricas para dominar – afetam o equilíbrio natural a ser restaurado, de alguma forma. Aqui devemos considerar seriamente as lições darwinistas cujo cerne da teoria está no progresso – Steven Jay Gould escreve sobre isso. Não tem nada a ver com as bobagens da direita sobre a prevalência do mais forte. A lição é: a natureza por si só não é natural, é naturalizada.
A natureza emenda e improvisa nas grandes perdas e catástrofes. A natureza não é um pétreo harmônico de estações do ano sequenciais e de reprodução. A natureza é um grande caos catastrófico que, de tempos em tempos, se contém em um equilíbrio frágil e depois explode novamente. Qual é nossa maior fonte de energia hoje? Petróleo. O petróleo é feito de restos orgânicos, nos quais é possível até reconhecer traços de plantas e animais. Podemos imaginar qual tipo de incrível catástrofe ecológica aconteceu para termos nossas reservas de petróleo? Isso é a natureza.
Minha primeira conclusão: a precisa ideia de que nós humanos somos talvez ativos demais em intervenções, afetando um balanço pré-existente, é ideologia em seu estado mais puro. Na psicanálise com orientação lacaniana conhecemos o lema: “o grande Outro não existe”. Devemos estender isso para a natureza. A primeira premissa de uma verdadeira ecologia radical deveria ser: “a natureza não existe”; a natureza como essa divindade materna – a substância de Gaia, se quiserem – na qual os seres humanos perturbam e então o balanço precisaria ser restaurado.
Para biólogos e geólogos, por exemplo, o equilíbrio natural do nosso mundo já é – em certa extensão – acomodado com a nossa poluição. Imaginemos subitamente suprimir ou diminuir a poluição. Isso causaria uma impressionante catástrofe desequilibrada na reprodução natural. A natureza já inclui nossa poluição.
A ecologia sem natureza é, portanto, a ecologia na qual se aceita esse desequilíbrio aberto desnaturalizado; uma natureza com improviso, não um equilíbrio estável. Essa precisa noção de natureza como pétreo da vida, a impor a ideia de “padrão estável”, é a verdadeira arrogância humana, a violência humana definitiva.

Ignorando as ameaças
A respeito de uma catástrofe ecológica, é muito raso atribuir a descrença nas catástrofes à impregnação de nossas mentes pela crença na ideologia científica. Falo sobre essa tese padrão da ecologia predominante: “O custo último dos nossos problemas ecológicos é a tecnologia moderna e a subjetividade cartesiana a considerar que somos seres abstratos exteriores à natureza; podemos dominá-la e manipulá-la; devemos redescobrir que a natureza não é algo externo, um objeto de nossa manipulação; a natureza é nosso próprio background, somos amarrados à natureza, estamos inseridos na natureza; você deve sair, sentir e respirar natureza, você deve aceitar: sua reificação científica abstrata de fertilização na natureza nos chamados mecanismos naturais é só efeito alienante de estar embutido na vida”.
Longe de oferecer uma solução, esse tipo de referência a nossa experiência imediata de vida é a causa do problema. Por causa desse sentimento contínuo de estar inserido no ambiente natural, não podemos tomar – e não tomamos – a ameaça ecológica a sério o suficiente. Tirando os efeitos catastróficos vistos de tempos em tempos, estamos cientes que a própria noção da crise ecológica é uma crise científica? Precisamos acreditar na ciência, mas por que não agimos embora saibamos quão perigosa é a situação ecológica?
Em psicanálise chamamos de “recusa fetichista”. A lógica é famosa: “conheço muito bem, mas mesmo assim eu não acredito”. A ciência está dizendo sobre todas as ameaças; mas o que acontece então depois de ler um artigo sobre ecologia? Você sai e sente o vento, vê o pôr-do-sol, uns passarinhos cantando; estamos precisamente inseridos na natureza e não podemos aceitar a possibilidade de desmoronamento de tudo isso. Por causa disso, não podemos levar a sério a ameaça ecológica.
A minha conclusão – talvez um pouco louca – é que a solução não está em nossa alienação da ciência e tecnologia e integração ao organismo vivo da natureza. Vamos cortar tudo isso. Devemos nos superestimar ainda mais, nos desnaturalizarmos; apenas assim podemos ver a ameaça ecológica, caso contrário estaremos agindo como os fazendeiros ucranianos próximos de Chernobyl (existem mais de 100 vivendo dentro da zona de exclusão), os quais afirmam: “qual é problema? Vejam! A vida é boa. Toda a multidão saiu, podemos cultivar nossas plantas”. Eles simplesmente negam o problema. Essa é a reação natural.
Precisamos, ao contrário, cortar nossa ligação, ideológica, com a natureza. Velhos marxistas como György Lukács estavam certos. A natureza é sempre uma categoria social, não no sentido idealista de “reconstruir a natureza”, mas sim considerando o “natural” sempre como um programa de certa constelação simbólica social. Cada época tem sua própria natureza.
Em tempos medievais, a natureza era tida como uma pirâmide natural da criação; com a explosão do capitalismo, a natureza foi considerada o espaço da luta competitiva. No nosso tempo, a natureza é mais um sistema autopoético. Podemos analisar o uso da natureza e ver que, por ser um espaço aberto do “outro” para nós humanos, funciona também como um espaço aberto para investimentos ideológicos.
Ausência de significado
A psicanálise (que não tem nada a ver com a hermenêutica ou a busca por grandes sentidos) é a melhor ferramenta para evitar a tentação do significado. Isso é muito difícil, especialmente quando estamos lidando com catástrofes. Consigo entender o fenômeno louco de uma seita judaica ortodoxa liderada por um rabino a dizer que os judeus mereceram o holocausto pois estavam permeados pelas pecaminosas regras europeias. Mesmo soando maluco, culpar a si próprio parece mais fácil do que aceitar que um ato absolutamente terrível como o Holocausto tenha acontecido sem nenhum grande significado profundo.
A grande lição do cristianismo é justamente essa resistência ao significado. As maiores dívidas de descobertas da civilização ocidental estão no livro de Jó do Velho Testamento. Lembrem-se da história: Jó não obedece a crucis de Deus, mas sim ele protesta a todo o momento. E é impressionante como mistificamos sua figura.
Coisas horríveis acontecem com ele, perdendo tudo; sua esposa, suas ovelhas, suas vacas. E então vêm os três idiotas, protoideologistas. Qual era o ponto desses amigos teológicos? Afirmar a existência de um sentido na catástrofe. O primeiro dá uma versão civil. Já o segundo afirma se tratar de um teste de Deus. A grandeza de Jó não é exatamente protestar contra a palavra de Deus e sim dizer: “Todas essas coisas horríveis aconteceram comigo, mas eu não aceito a existência de qualquer significado nelas”. Deus aparece no final e diz: cada palavra dita nos protestos de Jó estava correta e todos esses advogados teológicos estavam errados. Jó deve ser efetivamente lido como precursor de Jesus Cristo. O que morre na cruz? Hegel tem a resposta certa, quando diz: “na cruz, não é a representação terrestre que morre, mas o próprio Deus além”.
Para mim, a parte mais nojenta da ideologia religiosa é a ideia de que mesmo se você sofrer, não se preocupe muito, tudo tem um significado. A metáfora horrível da nossa experiência de sofrimento está em um retrato: uma bela foto – caso vista muito de perto – é uma mancha, se você se colocar numa distância apropriada você vê a mancha como parte de uma harmonia maior. Isso não é toda nossa experiência no Século 20? Não seria cínico dizer: “Ó! O Holocausto! O Stalinismo! Apenas apareceram, em nossa visão limitada, como uma mancha; da distância apropriada contribuíram para a harmonia divina”. Esse Deus – o grande Outro – abre a possibilidade para ter um sentido.
Hoje vejo a figura de Jesus Cristo no materialismo como sendo precisamente essa aplicação divina: “Eu não posso fazer por você, eu caio na minha própria criação, posso apenas sofrer com você”. Depois da crise, não há um retorno a Deus; Deus acabou. Aqui respeitosamente discordo do teórico ortodoxo para quem – a dupla questão da proveniência – o espírito santo vem apenas do pai. O cristianismo ocidental acredita vir do pai e do filho. Não. Acredito vir apenas do filho; por meio do filho, o pai morre em todas as dimensões do espírito santo. A mensagem não é “nós confiamos em Deus” e sim “Deus está desesperado e precisa confiar em nós”.
Desconhecimentos conhecidos
Podemos articular a questão da ecologia com o pensamento de um conhecido “filósofo” americano, Donald Rumsfeld, Secretário de Defesa dos Estados Unidos entre 2001 e 2006. Ele desenvolveu algumas falas interessantes em 2003, no começo da Guerra do Iraque, durante uma estranha entrevista, quando justificou o medo sobre armas de destruição em massa, distinguindo “conhecimentos conhecidos” – coisas que conhecemos conhecer – e os “desconhecimentos conhecidos” – coisas que não conhecemos, mas sabemos que não sabemos – e também os “desconhecimentos desconhecidos” – coisas que não sabemos e nem sequer sabemos não saber, como as superarmas de Saddam Hussein no Iraque.
Precisamos criticá-lo. Ele esqueceu do quarto elemento, não os “desconhecimentos conhecidos”, mas os “conhecimentos desconhecidos” – coisas que não sabemos que nós conhecemos. Assim podemos chamar a ideologia, os preconceitos, as ideias inconscientes a nos controlar, as quais determinam nossos atos, mas nós nem mesmo conhecemos conhecê-las.
Para concluir e voltando para a ecologia: existem duas dimensões precisamente cruciais sobre como lidamos mal com ecologia. De um lado, ecologia é tão ameaçadora porque estamos lidando com “desconhecimentos desconhecidos”, a coisa é aberta e não sabemos o quê não sabemos. Assim podemos fazer algo e um resultado inesperado surge. Por outro lado, somos profundamente determinados pelos “conhecimentos desconhecidos”, ou seja, não estamos nem mesmo cientes de qual extensão a própria percepção da problemática ecológica é determinada por essa “espontânea” noção ideológica de como entendemos a natureza; noções nas quais não estamos nem mesmo cientes
Não existe uma saída fácil. Não estou propondo soluções simples para a crise ecológica. Francamente, não acho que isso cabe a mim como filósofo. Colocando de forma naïf, vivemos tempos difíceis. Não posso dar respostas, não sei o que devemos fazer, mas sim posso apenas ajudar a ver como nós podemos abordar o problema; a formulação da pergunta é parte da questão. Como Gilles Deleuze disse certa vez, não há apenas respostas erradas, há também perguntas erradas. Sobre isso podemos falar muito hoje em dia.
Texto editado a partir de palestra de Slavoj Žižek realizada no dia 3 de outubro de 2007 na Universidade Athens Panteion.
Slavoj Žižek,
filósofo e psicanalista esloveno; professor da European Graduate School e pesquisador sênior no Instituto de Sociologia da Universidade de Liubliana.
Outras leituras & links recomendados